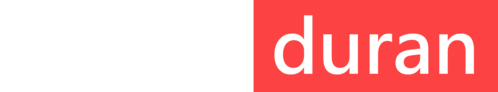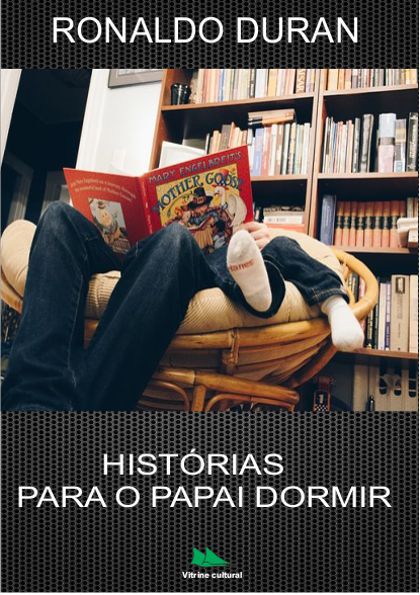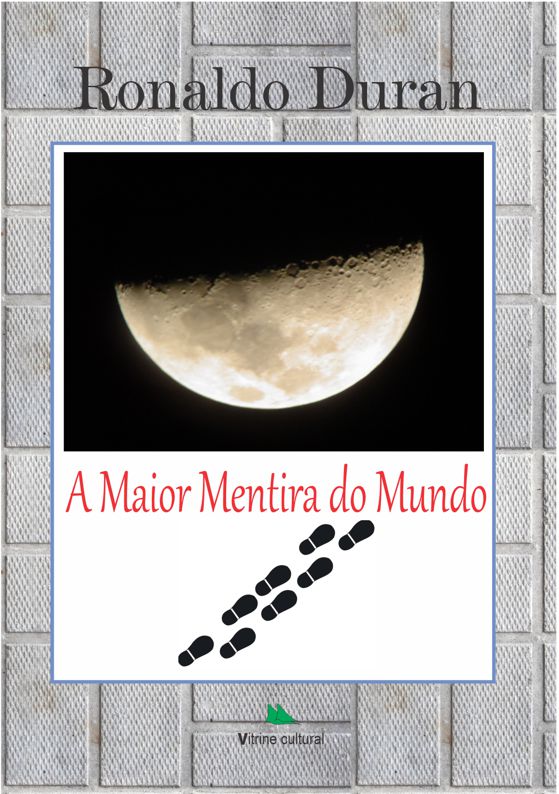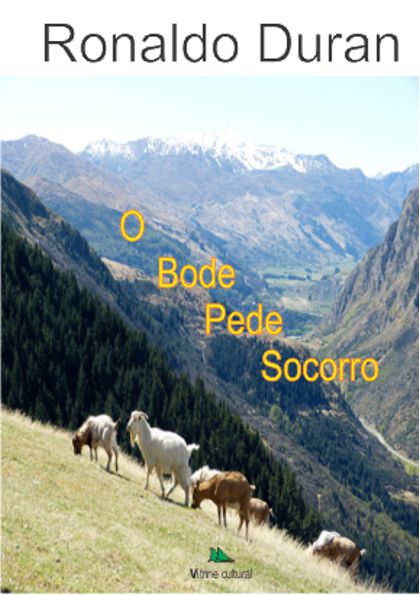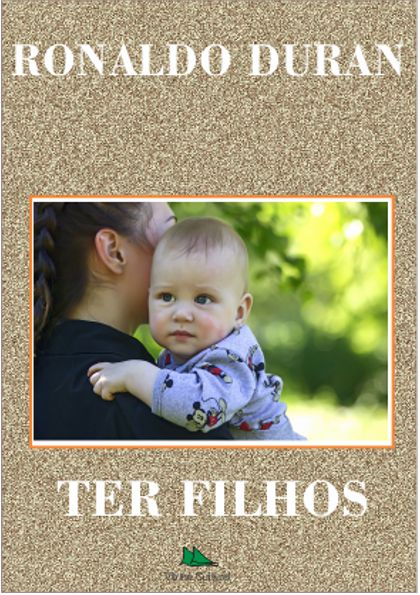
TER FILHOS
Três histórias contam como é ter um filho. Cada uma oferece visão diferenciada. Numa, a mãe se vê retratada; noutra, é a vez de um pai de primeira viagem. Além dessas, o leitor encontra mais de 100 outras histórias. Muitas dessas histórias foram publicadas em jornais de norte a sul do Brasil desde meados da última década.
Compre Agora
Contos
TENHO MENOS de um ano em Sampa. As histórias que ouvia em Jaboticabal me faziam temer a capital. As imagens que passavam por minha cabeça a partir dos comentários eram aterrorizantes.
Nos prédios residenciais e nos estabelecimentos comerciais, as paredes pichadas com rabiscos que só pessoas envolvidas com gangues de rua ou com facções criminosas podiam traduzir. Eu não conseguia ver arte naquilo. Era horrível. Quem pichava sempre, claro, com o discurso de que precisa expor sua arte. Mas eu me perguntava se suas casas fossem alvo da pichação teriam eles a mesma ladainha?
Nas sarjetas, lixo atirado a esmo, ainda que a prefeitura invista milhões do orçamento anual na compra e manutenção das lixeiras e na contratação e pagamento dos salários de coletores.
Por falar nas lixeiras, quanto vandalismo. Raro a manhã que eu não encontrava pelo caminho para o trabalho uma cesta de lixo arrancada, destruída. Parece que o vândalo tem ódio feroz à limpeza.
Ainda no item vandalismo, que pena dava ver os orelhões. Ora os aparelhos e fios arrancados para serem vendidos em ferro-velho ou em qualquer mercado negro, ora as cabinas barbaramente chutadas e depredadas. Vândalos, quando muito, só dão importância ao orelhão quando há uma urgência e não encontram um em condição de realizar a ligação.
Encostados rentes a muretas, muros ou paredes, e posicionados em trechos de grande movimento de pedestres, eu vejo mendigos a esmolar.
Como a mendicância se ramifica, haveria o tipo de pedinte que se recusa a ficar na rua com a mão estendida. Esse irá cobrar dos motoristas que estacionam na rua. Para garantir um lugar para o carro, o motorista será obrigado a pagar duas vezes: para a zona azul da prefeitura e para o vigilante avulso.
Trânsito dos infernos, e trens lotados.
Mas o tempo foi passando, e a calmaria me envolveu. Estaria adaptado? Talvez.
Leciono francês. Volta e meia, me agarro nas barras de ferro do metrô. Uma escola no Belém, outra no Paraíso. As aulas particulares no Vergueiro. Na Paulista, três empresários que querem dominar o francês até o fim do ano. Lá vou eu. A bem da verdade, manipulo as condições para que eu dependa apenas do metrô. Tomar ônibus em São Paulo é tão pior ou igual a dirigir o próprio veículo na Marginal Tietê.
Adoro o que faço. Dar aulas está na alma. Nas férias em Paris, eu dou aula de português para meia dúzia de francesas. No Brasil, me realizo. Difícil ficar rico na profissão. Dá para quitar as despesas. Vou vivendo como boa parte do povo brasileiro.
No interior, nas conversas saudosistas de paulistanos, a capital era pintada com cores cosmopolitas. O tédio sendo facilmente rechaçado pela diversidade de bares, restaurantes... Só que minha lógica é caseira.
No metrô, porém, eu consigo partilhar parte desta agitada diversidade paulistana.
No metrô, por vezes, o cansaço me abate após mais um dia de trabalho. Se eu posso, descanso num assento. Se não, o jeito é ir sacolejando em pé. De uma ou outra maneira, sempre ocorre algo que chama atenção. Jovens colegiais em algazarra. Sessentões vencidos, ar de tristeza. Ou vivazes octogenários, querendo sorver os últimos goles de vida. Judeus, ateus, cristãos, garotinhas, tias...
De repente, uma pessoa me encara. Traz um olhar interesseiro. Nada que beira à vulgaridade. Um traço de paquera repentina, fugaz. Eu disfarço a timidez. São necessárias várias consultas ao seu semblante, com dissimulada indiferença, para eu confirmar o interesse.
A pessoa gostou de mim. O olhar a denuncia.
Meu ego infla. Não vou atrás dela. Tenho família, um cônjuge em casa que eu amo. Mas é muito bom saber que se é objeto de desejo.
A estação chegou. Lanço o último olhar e a pessoa me corresponde com o suspiro: “fica mais um pouco”. Me agito.
Eu curto o metrô e suas surpresas que sacodem o tédio. Esse é o lado bom de Sampa. Entrei no vagão com depressãozinha no meu encalço. Saí pisando em nuvens.
Nos prédios residenciais e nos estabelecimentos comerciais, as paredes pichadas com rabiscos que só pessoas envolvidas com gangues de rua ou com facções criminosas podiam traduzir. Eu não conseguia ver arte naquilo. Era horrível. Quem pichava sempre, claro, com o discurso de que precisa expor sua arte. Mas eu me perguntava se suas casas fossem alvo da pichação teriam eles a mesma ladainha?
Nas sarjetas, lixo atirado a esmo, ainda que a prefeitura invista milhões do orçamento anual na compra e manutenção das lixeiras e na contratação e pagamento dos salários de coletores.
Por falar nas lixeiras, quanto vandalismo. Raro a manhã que eu não encontrava pelo caminho para o trabalho uma cesta de lixo arrancada, destruída. Parece que o vândalo tem ódio feroz à limpeza.
Ainda no item vandalismo, que pena dava ver os orelhões. Ora os aparelhos e fios arrancados para serem vendidos em ferro-velho ou em qualquer mercado negro, ora as cabinas barbaramente chutadas e depredadas. Vândalos, quando muito, só dão importância ao orelhão quando há uma urgência e não encontram um em condição de realizar a ligação.
Encostados rentes a muretas, muros ou paredes, e posicionados em trechos de grande movimento de pedestres, eu vejo mendigos a esmolar.
Como a mendicância se ramifica, haveria o tipo de pedinte que se recusa a ficar na rua com a mão estendida. Esse irá cobrar dos motoristas que estacionam na rua. Para garantir um lugar para o carro, o motorista será obrigado a pagar duas vezes: para a zona azul da prefeitura e para o vigilante avulso.
Trânsito dos infernos, e trens lotados.
Mas o tempo foi passando, e a calmaria me envolveu. Estaria adaptado? Talvez.
Leciono francês. Volta e meia, me agarro nas barras de ferro do metrô. Uma escola no Belém, outra no Paraíso. As aulas particulares no Vergueiro. Na Paulista, três empresários que querem dominar o francês até o fim do ano. Lá vou eu. A bem da verdade, manipulo as condições para que eu dependa apenas do metrô. Tomar ônibus em São Paulo é tão pior ou igual a dirigir o próprio veículo na Marginal Tietê.
Adoro o que faço. Dar aulas está na alma. Nas férias em Paris, eu dou aula de português para meia dúzia de francesas. No Brasil, me realizo. Difícil ficar rico na profissão. Dá para quitar as despesas. Vou vivendo como boa parte do povo brasileiro.
No interior, nas conversas saudosistas de paulistanos, a capital era pintada com cores cosmopolitas. O tédio sendo facilmente rechaçado pela diversidade de bares, restaurantes... Só que minha lógica é caseira.
No metrô, porém, eu consigo partilhar parte desta agitada diversidade paulistana.
No metrô, por vezes, o cansaço me abate após mais um dia de trabalho. Se eu posso, descanso num assento. Se não, o jeito é ir sacolejando em pé. De uma ou outra maneira, sempre ocorre algo que chama atenção. Jovens colegiais em algazarra. Sessentões vencidos, ar de tristeza. Ou vivazes octogenários, querendo sorver os últimos goles de vida. Judeus, ateus, cristãos, garotinhas, tias...
De repente, uma pessoa me encara. Traz um olhar interesseiro. Nada que beira à vulgaridade. Um traço de paquera repentina, fugaz. Eu disfarço a timidez. São necessárias várias consultas ao seu semblante, com dissimulada indiferença, para eu confirmar o interesse.
A pessoa gostou de mim. O olhar a denuncia.
Meu ego infla. Não vou atrás dela. Tenho família, um cônjuge em casa que eu amo. Mas é muito bom saber que se é objeto de desejo.
A estação chegou. Lanço o último olhar e a pessoa me corresponde com o suspiro: “fica mais um pouco”. Me agito.
Eu curto o metrô e suas surpresas que sacodem o tédio. Esse é o lado bom de Sampa. Entrei no vagão com depressãozinha no meu encalço. Saí pisando em nuvens.
SERÁ QUE confiei cegamente na minha tia? Não. Preciso crescer e assumir a responsabilidade pelas minhas escolhas. Minha tia nenhuma culpa teve. Eu a usei como desculpa para poder sair de casa. Queria mudar meu destino, escapar de pai, mãe, vacas magras, poeira, pouca água, fome.
A seca que açoitava o lombo como vara de marmelo. Eu queria sair da miséria.
Antes, cheguei a procurar fazer com que minha teimosia se resignasse, visse que ali era meu lugar, próximo dos meus. Que se a situação está ruim é preciso tentar mudá-la com todas as forças antes de aceitar abandonar a luta.
Assim, tentei mudar a situação. Procurei me nutrir da fé que diz que um dia a sorte chega.
À medida que o tempo passava, a esperança ia murchando, murchando...
A carne foi fraca. Fugi, deixando para trás a família e uma história.
São Paulo era o oásis. Contei com passagem e primeiras despesas.
Quando cheguei de mala e cuia na capital paulista, os braços de minha tia não estavam tão abertos. Não dá para fingir cortesia na hora de dividir o que é já pouco para a própria sobrevivência. Acenei com a intenção firme de arrumar emprego para diminuir a dependência. Ah, eu sairia no dia seguinte. Arrumaria qualquer coisa.
No dia seguinte estaria caminhando pelas grandes avenidas. Cada entrada de metrô, cada poste ou parede que tivesse afixado um aviso de ‘precisa-se de funcionário’, eu tomava nota do endereço e seguia em perseguição ao local. No peito, a afobação para achar a empresa. Perguntava às pessoas apressadas nas ruas, que me davam pistas certas, confusas e mesmo erradas sobre que caminho tomar.
Evitava ir de ônibus ou metrô, não porque tivesse medo de me perder. Era o dinheiro curto que me obrigava a preferir andar. Esquadrinhei boa parte das avenidas do centro antigo de São Paulo. Passei pela Sé, República, Consolação.
Levei dois, três, quatro meses. E nada. A lógica do ‘com experiência’ me excluía durante as entrevistas ou mesmo no momento que deixava o currículo com a recepcionista.
Como ter experiência se não me davam chance de trabalhar?
A situação apertou. Ressabiada com a experiência de manter parentes retirantes, minha tia pediu para que eu retornasse à minha terra. Ajudou-me com as passagens.
Na rodoviária, desisti. Resolvi me dar mais uma chance. O que levava no bolso, eu paguei dois ou três dias de pensão. Depois foram as pulseiras, roupas para convencer a proprietária a me deixar mais um pouco. Sem pensão, com a roupa do corpo, estava na rua. Dormia durante o dia em banco da praça. Temerosa de ser molestada, eu andava a noite inteira.
Senti fraqueza. Prostituição? Cederia eu aos vários convites recebidos na noite? Poderia pagar o aluguel e me alimentar se cedesse.
Nada, à fraqueza eu não cedi. Culpa de minha criação. Não passei fome. Pedia nas padarias, restaurantes. Depois do primeiro ano vivendo na rua raros os homens que aguentavam chegar perto de mim.
De repente, uma situação nova. Uma mulher e um pneu furado. Eu sentada na calçada, ela xingando o pneu. Eu, quieta. Ela chutando o pneu. Eu ofereci para trocar. Enquanto eu fazia o serviço, ela puxou conversa, como para diminuir o nervosismo, falando de sua vida azarada. Contei sobre a minha. Escutou com paciência rara. Pneu trocado, ela sorridente, me ofereceu para ir para sua casa, casa de família.
Cadeados e grades. As irmãs e mãe com medo de serem roubadas. Nem liguei. A louça suja, as roupas espalhadas. Fiz faxina na casa. Quando chegaram do trabalho, me elogiaram. Surge vaga de recepcionista na empresa onde uma das irmãs trabalhava. Levaram-me.
Fui admitida. No primeiro dia, uma burrada. O patrão me perdoou, forçado pelos apelos das colegas. Invocaram a tal falta de experiência. Provei que era capaz. E me superei.
Hoje casei com um fornecedor da empresa e tenho dois filhos.
Tudo isso graças à confiança depositada em mim pela mulher que troquei o pneu e, sobretudo, pela minha insistência em saber que quando se decide mudar um destino e se luta com afinco, se é capaz de saltar os obstáculos para alcançar a meta.
A seca que açoitava o lombo como vara de marmelo. Eu queria sair da miséria.
Antes, cheguei a procurar fazer com que minha teimosia se resignasse, visse que ali era meu lugar, próximo dos meus. Que se a situação está ruim é preciso tentar mudá-la com todas as forças antes de aceitar abandonar a luta.
Assim, tentei mudar a situação. Procurei me nutrir da fé que diz que um dia a sorte chega.
À medida que o tempo passava, a esperança ia murchando, murchando...
A carne foi fraca. Fugi, deixando para trás a família e uma história.
São Paulo era o oásis. Contei com passagem e primeiras despesas.
Quando cheguei de mala e cuia na capital paulista, os braços de minha tia não estavam tão abertos. Não dá para fingir cortesia na hora de dividir o que é já pouco para a própria sobrevivência. Acenei com a intenção firme de arrumar emprego para diminuir a dependência. Ah, eu sairia no dia seguinte. Arrumaria qualquer coisa.
No dia seguinte estaria caminhando pelas grandes avenidas. Cada entrada de metrô, cada poste ou parede que tivesse afixado um aviso de ‘precisa-se de funcionário’, eu tomava nota do endereço e seguia em perseguição ao local. No peito, a afobação para achar a empresa. Perguntava às pessoas apressadas nas ruas, que me davam pistas certas, confusas e mesmo erradas sobre que caminho tomar.
Evitava ir de ônibus ou metrô, não porque tivesse medo de me perder. Era o dinheiro curto que me obrigava a preferir andar. Esquadrinhei boa parte das avenidas do centro antigo de São Paulo. Passei pela Sé, República, Consolação.
Levei dois, três, quatro meses. E nada. A lógica do ‘com experiência’ me excluía durante as entrevistas ou mesmo no momento que deixava o currículo com a recepcionista.
Como ter experiência se não me davam chance de trabalhar?
A situação apertou. Ressabiada com a experiência de manter parentes retirantes, minha tia pediu para que eu retornasse à minha terra. Ajudou-me com as passagens.
Na rodoviária, desisti. Resolvi me dar mais uma chance. O que levava no bolso, eu paguei dois ou três dias de pensão. Depois foram as pulseiras, roupas para convencer a proprietária a me deixar mais um pouco. Sem pensão, com a roupa do corpo, estava na rua. Dormia durante o dia em banco da praça. Temerosa de ser molestada, eu andava a noite inteira.
Senti fraqueza. Prostituição? Cederia eu aos vários convites recebidos na noite? Poderia pagar o aluguel e me alimentar se cedesse.
Nada, à fraqueza eu não cedi. Culpa de minha criação. Não passei fome. Pedia nas padarias, restaurantes. Depois do primeiro ano vivendo na rua raros os homens que aguentavam chegar perto de mim.
De repente, uma situação nova. Uma mulher e um pneu furado. Eu sentada na calçada, ela xingando o pneu. Eu, quieta. Ela chutando o pneu. Eu ofereci para trocar. Enquanto eu fazia o serviço, ela puxou conversa, como para diminuir o nervosismo, falando de sua vida azarada. Contei sobre a minha. Escutou com paciência rara. Pneu trocado, ela sorridente, me ofereceu para ir para sua casa, casa de família.
Cadeados e grades. As irmãs e mãe com medo de serem roubadas. Nem liguei. A louça suja, as roupas espalhadas. Fiz faxina na casa. Quando chegaram do trabalho, me elogiaram. Surge vaga de recepcionista na empresa onde uma das irmãs trabalhava. Levaram-me.
Fui admitida. No primeiro dia, uma burrada. O patrão me perdoou, forçado pelos apelos das colegas. Invocaram a tal falta de experiência. Provei que era capaz. E me superei.
Hoje casei com um fornecedor da empresa e tenho dois filhos.
Tudo isso graças à confiança depositada em mim pela mulher que troquei o pneu e, sobretudo, pela minha insistência em saber que quando se decide mudar um destino e se luta com afinco, se é capaz de saltar os obstáculos para alcançar a meta.
O DITADO DIZ que temos cinco minutos de fama. Em termos de relacionamento afetivo, sinto que meu momento é agora.
Não me lembro de outro período que eu tenha sido contagiada por essa motivação que estimula a conversar com quem quer que seja, de ter habilidade de expor meu pensamento de modo claro, de não ficar encabulada à toa ou temendo que o que eu digo possa virar objeto de sarcasmo ou deboche.
No meio de amigas, despertou mais segurança para expor minhas ideias e sugestões. Quando se recusam a ouvir, me questionam ou fazem caretas para uma opinião, já não tomo como afronta. Encaro que apenas estão exercitando o direito de não concordarem com algo que não compreendem ou não aceitam. Afinal, todos têm esse direito, inclusive eu.
E diante dos rapazes? Como a situação tem mudado. Não significa dizer que virei mais atirada, sedutora. Porém, não dá para negar que dentro de mim a autoconfiança transforma minha fisionomia. Meu papo parece mais atraente, visto que me vejo rodeada por sujeitos que antes sequer notavam que eu existia.
Claro, é bom nunca esquecer que nem sempre tive essa desenvoltura.
Tive neuroses na adolescência. Parecia que todas as minhas amigas se davam bem com os garotos e eu não. Na época, lutava desesperadamente para me esquivar da posição de segura-vela.
Aos dezenove anos, pintou a primeira paixão. A vida do lado dele era a mais bela, fascinante, encantadora. Longe, me sentia pior que estar na pele de paciente terminal. Bastava ele se afastar, para eu me perder em meio a um vazio que sufocava.
Nós nos enamoramos. Um namoro de seis anos. Faltou o casório para coroar a paixão.
Mas a paixão fugiu do altar antes de nós. Boquiabertos, nos estranhamos. Os nossos interesses ficaram diferentes, conflitantes. Esquisito, eu parecia falar português e ele russo. A desconfiança melindrava nossa relação. Passávamos à condição de estranhos. Eu até quis racionalizar: que não me via tão cedo na situação de casada, com filhos. Nada. Era desculpa para não admitir a frustração do fim do amor.
Demos passaporte livre um para o outro. Fiquei assustada.
Aos 28 anos, ah, é complicado querer ficar sozinha. Não só pelos abraços no banco traseiro do Astra, pelas beijocas quentes trocadas numa pizzaria da moda, pelos corpos aconchegados numa noite de inverno, ou ter que ficar sozinha na balada. Era algo mais sublime.
Era a cumplicidade que encontramos no parceiro que nos ama e que dá razão para essa curta estadia na Terra. Que banal seria se a vida se resumisse a dormir, ir ao banheiro, almoçar. Que sem graça seria a existência sem amor.
Tem que haver um cara que valha a pena, é o que penso.
Talvez por parar de me preocupar em ter alguém, que eles apareceram.
Há dois meses, conheci um professor de História da Arte no ônibus São Paulo-Caçapava. Ele vai duas vezes para a USP. Além de professor, é pintor, e que talento. O papo dele encanta. Além do professor, há mais dois caras que parecem disputar minha atenção. Um rapaz lindo, de cair o queixo, bancário, que todos os dias eu vejo na volta para casa. O outro é um alto funcionário do Ministério da Fazenda. Todos estão atrás de mim.
Olha meus cinco minutos de fama aí.
Os três me fizeram proposta.
Um de forma velada, dois de maneira escancarada.
Quem eu devo seguir? Sou todo torpor. Seria tão mais fácil se houvesse apenas uma possibilidade porque mais de uma dá nó na cabeça. Qual instinto vai prevalecer em mim: o da grana, o da sensibilidade ou o da beleza? Todos eles têm um pouquinho das três qualidades, embora cada um se destaque numa delas.
Pra que encanar? Posso escolher nenhum dos pretendentes pelo simples motivo de que nem tudo que reluz é ouro. Porém, só pelo fato de ter tido a oportunidade destas opções já me satisfaz. É excelente remédio para curar qualquer trauma da adolescência.
Não quero dar golpe. Quero viver de minha profissão, sem depender do dinheiro alheio. Mas não abro mão de estar ao lado de um cara legal, de uma agradável companhia.
Não me lembro de outro período que eu tenha sido contagiada por essa motivação que estimula a conversar com quem quer que seja, de ter habilidade de expor meu pensamento de modo claro, de não ficar encabulada à toa ou temendo que o que eu digo possa virar objeto de sarcasmo ou deboche.
No meio de amigas, despertou mais segurança para expor minhas ideias e sugestões. Quando se recusam a ouvir, me questionam ou fazem caretas para uma opinião, já não tomo como afronta. Encaro que apenas estão exercitando o direito de não concordarem com algo que não compreendem ou não aceitam. Afinal, todos têm esse direito, inclusive eu.
E diante dos rapazes? Como a situação tem mudado. Não significa dizer que virei mais atirada, sedutora. Porém, não dá para negar que dentro de mim a autoconfiança transforma minha fisionomia. Meu papo parece mais atraente, visto que me vejo rodeada por sujeitos que antes sequer notavam que eu existia.
Claro, é bom nunca esquecer que nem sempre tive essa desenvoltura.
Tive neuroses na adolescência. Parecia que todas as minhas amigas se davam bem com os garotos e eu não. Na época, lutava desesperadamente para me esquivar da posição de segura-vela.
Aos dezenove anos, pintou a primeira paixão. A vida do lado dele era a mais bela, fascinante, encantadora. Longe, me sentia pior que estar na pele de paciente terminal. Bastava ele se afastar, para eu me perder em meio a um vazio que sufocava.
Nós nos enamoramos. Um namoro de seis anos. Faltou o casório para coroar a paixão.
Mas a paixão fugiu do altar antes de nós. Boquiabertos, nos estranhamos. Os nossos interesses ficaram diferentes, conflitantes. Esquisito, eu parecia falar português e ele russo. A desconfiança melindrava nossa relação. Passávamos à condição de estranhos. Eu até quis racionalizar: que não me via tão cedo na situação de casada, com filhos. Nada. Era desculpa para não admitir a frustração do fim do amor.
Demos passaporte livre um para o outro. Fiquei assustada.
Aos 28 anos, ah, é complicado querer ficar sozinha. Não só pelos abraços no banco traseiro do Astra, pelas beijocas quentes trocadas numa pizzaria da moda, pelos corpos aconchegados numa noite de inverno, ou ter que ficar sozinha na balada. Era algo mais sublime.
Era a cumplicidade que encontramos no parceiro que nos ama e que dá razão para essa curta estadia na Terra. Que banal seria se a vida se resumisse a dormir, ir ao banheiro, almoçar. Que sem graça seria a existência sem amor.
Tem que haver um cara que valha a pena, é o que penso.
Talvez por parar de me preocupar em ter alguém, que eles apareceram.
Há dois meses, conheci um professor de História da Arte no ônibus São Paulo-Caçapava. Ele vai duas vezes para a USP. Além de professor, é pintor, e que talento. O papo dele encanta. Além do professor, há mais dois caras que parecem disputar minha atenção. Um rapaz lindo, de cair o queixo, bancário, que todos os dias eu vejo na volta para casa. O outro é um alto funcionário do Ministério da Fazenda. Todos estão atrás de mim.
Olha meus cinco minutos de fama aí.
Os três me fizeram proposta.
Um de forma velada, dois de maneira escancarada.
Quem eu devo seguir? Sou todo torpor. Seria tão mais fácil se houvesse apenas uma possibilidade porque mais de uma dá nó na cabeça. Qual instinto vai prevalecer em mim: o da grana, o da sensibilidade ou o da beleza? Todos eles têm um pouquinho das três qualidades, embora cada um se destaque numa delas.
Pra que encanar? Posso escolher nenhum dos pretendentes pelo simples motivo de que nem tudo que reluz é ouro. Porém, só pelo fato de ter tido a oportunidade destas opções já me satisfaz. É excelente remédio para curar qualquer trauma da adolescência.
Não quero dar golpe. Quero viver de minha profissão, sem depender do dinheiro alheio. Mas não abro mão de estar ao lado de um cara legal, de uma agradável companhia.
AO REDOR da mesa cirúrgica, éramos cinco. Todos iam com as máscaras no rosto. Os instrumentos perfeitamente dispostos em cima da pequena mesa ao lado. Aparelhos que regulam os batimentos cardíacos mostram que o paciente está pronto – já sob o efeito da anestesia.
Mais uma cirurgia à frente. A terceira nesta semana.
Como na maioria das vezes, um assunto vem à tona e serve para relaxar a tensão que é estar diante da tarefa de cuidar do corpo alheio.
Numa cirurgia, independente do grau de risco, requer-se que a vigilância seja mantida.
Não raro encontramos, na prática médica, acidentes irreversíveis que levaram o paciente a óbito, provocados por excesso de confiança durante a realização de cirurgia de risco leve ou médio. Deve-se, portanto, estar atendo quanto ao risco de um assunto empolgante desviar a atenção requerida para a tarefa. É preciso manter um olho no peixe e outro no gato.
E que tal ficar mudo, apenas centrado na tarefa? Se há profissionais que conseguem essa façanha, eu tiro o chapéu. Tem dias que eu me coloco esse objetivo. Das vezes que fiquei mudo, surgiu a tensão parecida com a que eu experimentava na época da residência.
A conversa me dá confiança para seguir fazendo o que gosto. Me ajuda a entrar no automático do mesmo modo que o motorista fica atento à estrada ao prosear com o amigo ou parente no banco de passageiro.
Claro, nem sempre a conversa é agradável.
Hoje, por exemplo, deixei-me envolver por uma questão pueril. Uma das anestesistas, passando dos 52 anos de idade, quis pôr na dúvida o emprego que fiz da expressão ficar.
Olha, se eu abri minha vida particular foi tão somente para relaxar da tensão que se arrastava há um bom tempo diante da complicada cirurgia que tínhamos diante de nós. Foram seis horas na luta incansável para realinhar o rosto de um motoqueiro.
Se fato é que, raras são as vezes que se entra mudo e sai calado do centro cirúrgico, tampouco ele serve de palco para acalorada discussão. O ambiente costuma pedir justamente o contrário: concentração.
“Sim, fui uma vítima”, comecei na intenção de distrair o povo. “O primeiro beijo que levei foi uma doação. A menina, sabendo da paixão de longa data e comovida com minha cara de cachorro pidão, me beijou. Não, ela não me disse estas coisas de supetão. Havia falado a uma amiga, a qual por sua vez me contara.”
O caso soou como anedota e provocou risos na equipe.
“Apaixonado, ainda fui tirar satisfação com a Marisa, a doadora do beijo, mas ela me tratou com frieza”, continuei.
“E confirmou o que eu achava fofoca. Vendo meu desapontamento, amoleceu: me desculpa se te dei falsas esperanças. Eu fiquei com você. Eu nunca falei em namoro”.
No clima de brincadeira, ainda que no manejo firme do bisturi, finalizei: “é duro ter sido usado”.
A anestesista questionou o termo, “acho que você está fazendo confusão. A expressão ficar é de agora, anos 2000, usada pelos jovens”.
Eu que costumo levar na brincadeira, rebati. “O quê? Ela me enganou? Ou ela estava à frente de seu tempo, quando usou o ficar faz uns vinte anos? De qualquer modo, se não havia ficar na época, então fui enganado. Eu saí no prejuízo, ela deveria ter sido minha namorada.”
Sim, uma fala confusa até para mim que a recordo agora. Não me espantaria que fosse sem graça, destituída de sentido para quem a ouvisse. Mas sabe a cabeça da gente, né? Enrosca em cada passagem insignificante.
O que estava na disputa nada tinha a ver com um saudosismo do primeiro beijo na adolescência. Era sim uma briga disfarçada de gerações. Aos trinta e oito anos, eu tentei soar moderno? Pode ser. A anestesista igualmente pueril procurava diminuir a distância entre nós? Queria ela provar que nem era tão idosa nem eu tão novo? Talvez fosse isso.
Vai ver foi um mal-entendido entre amores-próprios ameaçados. Será que insistir no debate sobre ninharias por ter dito o que quis e ouvido o que não queria?
De qualquer forma, preciso parar de levar a coisa para o lado pessoal, se não vou acabar me refugiando no silêncio, o qual sempre me incomodou quando estou cercado por pessoas.
Mais uma cirurgia à frente. A terceira nesta semana.
Como na maioria das vezes, um assunto vem à tona e serve para relaxar a tensão que é estar diante da tarefa de cuidar do corpo alheio.
Numa cirurgia, independente do grau de risco, requer-se que a vigilância seja mantida.
Não raro encontramos, na prática médica, acidentes irreversíveis que levaram o paciente a óbito, provocados por excesso de confiança durante a realização de cirurgia de risco leve ou médio. Deve-se, portanto, estar atendo quanto ao risco de um assunto empolgante desviar a atenção requerida para a tarefa. É preciso manter um olho no peixe e outro no gato.
E que tal ficar mudo, apenas centrado na tarefa? Se há profissionais que conseguem essa façanha, eu tiro o chapéu. Tem dias que eu me coloco esse objetivo. Das vezes que fiquei mudo, surgiu a tensão parecida com a que eu experimentava na época da residência.
A conversa me dá confiança para seguir fazendo o que gosto. Me ajuda a entrar no automático do mesmo modo que o motorista fica atento à estrada ao prosear com o amigo ou parente no banco de passageiro.
Claro, nem sempre a conversa é agradável.
Hoje, por exemplo, deixei-me envolver por uma questão pueril. Uma das anestesistas, passando dos 52 anos de idade, quis pôr na dúvida o emprego que fiz da expressão ficar.
Olha, se eu abri minha vida particular foi tão somente para relaxar da tensão que se arrastava há um bom tempo diante da complicada cirurgia que tínhamos diante de nós. Foram seis horas na luta incansável para realinhar o rosto de um motoqueiro.
Se fato é que, raras são as vezes que se entra mudo e sai calado do centro cirúrgico, tampouco ele serve de palco para acalorada discussão. O ambiente costuma pedir justamente o contrário: concentração.
“Sim, fui uma vítima”, comecei na intenção de distrair o povo. “O primeiro beijo que levei foi uma doação. A menina, sabendo da paixão de longa data e comovida com minha cara de cachorro pidão, me beijou. Não, ela não me disse estas coisas de supetão. Havia falado a uma amiga, a qual por sua vez me contara.”
O caso soou como anedota e provocou risos na equipe.
“Apaixonado, ainda fui tirar satisfação com a Marisa, a doadora do beijo, mas ela me tratou com frieza”, continuei.
“E confirmou o que eu achava fofoca. Vendo meu desapontamento, amoleceu: me desculpa se te dei falsas esperanças. Eu fiquei com você. Eu nunca falei em namoro”.
No clima de brincadeira, ainda que no manejo firme do bisturi, finalizei: “é duro ter sido usado”.
A anestesista questionou o termo, “acho que você está fazendo confusão. A expressão ficar é de agora, anos 2000, usada pelos jovens”.
Eu que costumo levar na brincadeira, rebati. “O quê? Ela me enganou? Ou ela estava à frente de seu tempo, quando usou o ficar faz uns vinte anos? De qualquer modo, se não havia ficar na época, então fui enganado. Eu saí no prejuízo, ela deveria ter sido minha namorada.”
Sim, uma fala confusa até para mim que a recordo agora. Não me espantaria que fosse sem graça, destituída de sentido para quem a ouvisse. Mas sabe a cabeça da gente, né? Enrosca em cada passagem insignificante.
O que estava na disputa nada tinha a ver com um saudosismo do primeiro beijo na adolescência. Era sim uma briga disfarçada de gerações. Aos trinta e oito anos, eu tentei soar moderno? Pode ser. A anestesista igualmente pueril procurava diminuir a distância entre nós? Queria ela provar que nem era tão idosa nem eu tão novo? Talvez fosse isso.
Vai ver foi um mal-entendido entre amores-próprios ameaçados. Será que insistir no debate sobre ninharias por ter dito o que quis e ouvido o que não queria?
De qualquer forma, preciso parar de levar a coisa para o lado pessoal, se não vou acabar me refugiando no silêncio, o qual sempre me incomodou quando estou cercado por pessoas.
EESTAVA ELE à espera há uns bons minutos. Pessoas indo e vindo. Do banco de plástico duro, o rapaz mirava a pressa que se traduzia nos esbarrões esporádicos entre pedestres no terminal de ônibus de Campo Grande, bairro da zona Oeste do Rio de Janeiro.
“Motorista, motorista” – grita uma senhora para que ele espere um pouco, apontando para a mulher que vem acelerando o passo como pode, visto que segura na mão direita a grande sacola e na esquerda a mãozinha da filha de uns oito anos, a qual se esforça para acompanhar o ritmo materno.
Quando a mãe finalmente entra no ônibus, agradece ao motorista que, talvez pelo cumprimento sincero, desfaz a cara feia, por estar atrasado.
O terminal de ônibus conta com pequenas lanchonetes. De onde estava sentado, o rapaz podia ouvir os fregueses pedirem suco de laranja, limão, manga ou uva. Na verdade, a maioria dos sucos se tratava de refrescos feitos com pó diluído na água. Os sucos de frutas naturais eram mais caros, portanto, menos solicitados.
Ele mesmo quando ia para Cascadura, Méier ou centro da cidade costumava caçar as promoções de ‘compre um salgado e ganhe um refresco’. Mas quando circulava no bairro, evitava gastar. Exceção feita na hora do intervalo na escola que estudava à noite. Sendo o dinheiro curto, nada de gastar à toa. Como estratégia para fazer frente à tentação das estufas, antes de sair de casa, fazia um reforço na geladeira ou despensa, só para não correr o risco de o estômago roncar na hora errada.
O adolescente aproveita para passar o tempo ouvindo conversas paralelas. Numa das caixas de som, uma música da banda preferida. Nesse ano de 1986, houve ótimos acontecimentos em sua vida. Uma delas foi encontrar a primeira namorada há seis meses.
Ela, um ano mais velha. Empregada num escritório, todo dia tomava o fretado rumo a Avenida Rio Branco no centro da cidade, por volta das seis horas da manhã. E retornava lá pelas dezenove horas, no mais tardar às 20h.
Para muitos, uma vida sofrida. Contudo, em relação aos milhares de cariocas cujo transporte para o centro da cidade limita-se aos desconfortáveis trens lotados, ela estaria na qualidade de pessoa privilegiada, seguindo para seu trabalho em sua poltrona aconchegante.
Apesar de somente um ano de diferença, a menina manejava a relação como líder, pessoa que tem o controle da situação, experiente.
Para ela, ele era interessante, por ser simples, sorriso verdadeiro, corpo atraente, fala empolgante. Ela gostava de estar ao seu lado.
Quando se conheceram? No clube, domingo à noite. Ele empolgado no rock nacional, ela querendo relaxar. Coincidindo em gostos, trocaram ideias. E ficaram juntos. A partir de então, marcaram de se encontrar no terminal rodoviário de Campo Grande. Ainda não era um namoro oficial. Era para se conhecerem e trocarem afagos.
Embora independente, ela se sentia balançada na relação fortuita. A experiência de outros namorados e agora na tarefa de iniciar com um rapaz que pela primeira vez se envolvia com uma garota, a fez gostar da posição de condutora.
O estudante, vivendo à custa dos pais, nem por isso mais feliz, via na menina um apoio para adentrar na fase adulta e provar que é capaz de libertar-se da dependência financeira e de mil outras inconstâncias que perpassam por sua cabeça.
Ela era mais que um corpo acolhedor, lábios sedosos. Tinha a paciência de escutá-lo, indicando caminhos para solucionar ou contornar conflitos que o perturbavam.
Mas a relação acabou. Ela disse que tinha arranjado um namorado, coisa assim. Ele não se lembrava muito bem. O fato é que pediu para que não a esperasse mais no terminal. Que dureza! Agarrado que estava àquela menina e à segurança de poder ter uma pessoa para chamar de sua.
Como era garoto, sofrera, desesperara-se, porém, superaria o baque. Numa noite, uma colega da rua o achou legal e trocam ideias e carinhos.
“Que bom ter alguém... A melhor cura para o amor que termina é a disposição para o outro amor que inicia,” repete a frase que ouvira e gostou, enquanto pega na carteira a foto 3x4 da nova namorada.
“Motorista, motorista” – grita uma senhora para que ele espere um pouco, apontando para a mulher que vem acelerando o passo como pode, visto que segura na mão direita a grande sacola e na esquerda a mãozinha da filha de uns oito anos, a qual se esforça para acompanhar o ritmo materno.
Quando a mãe finalmente entra no ônibus, agradece ao motorista que, talvez pelo cumprimento sincero, desfaz a cara feia, por estar atrasado.
O terminal de ônibus conta com pequenas lanchonetes. De onde estava sentado, o rapaz podia ouvir os fregueses pedirem suco de laranja, limão, manga ou uva. Na verdade, a maioria dos sucos se tratava de refrescos feitos com pó diluído na água. Os sucos de frutas naturais eram mais caros, portanto, menos solicitados.
Ele mesmo quando ia para Cascadura, Méier ou centro da cidade costumava caçar as promoções de ‘compre um salgado e ganhe um refresco’. Mas quando circulava no bairro, evitava gastar. Exceção feita na hora do intervalo na escola que estudava à noite. Sendo o dinheiro curto, nada de gastar à toa. Como estratégia para fazer frente à tentação das estufas, antes de sair de casa, fazia um reforço na geladeira ou despensa, só para não correr o risco de o estômago roncar na hora errada.
O adolescente aproveita para passar o tempo ouvindo conversas paralelas. Numa das caixas de som, uma música da banda preferida. Nesse ano de 1986, houve ótimos acontecimentos em sua vida. Uma delas foi encontrar a primeira namorada há seis meses.
Ela, um ano mais velha. Empregada num escritório, todo dia tomava o fretado rumo a Avenida Rio Branco no centro da cidade, por volta das seis horas da manhã. E retornava lá pelas dezenove horas, no mais tardar às 20h.
Para muitos, uma vida sofrida. Contudo, em relação aos milhares de cariocas cujo transporte para o centro da cidade limita-se aos desconfortáveis trens lotados, ela estaria na qualidade de pessoa privilegiada, seguindo para seu trabalho em sua poltrona aconchegante.
Apesar de somente um ano de diferença, a menina manejava a relação como líder, pessoa que tem o controle da situação, experiente.
Para ela, ele era interessante, por ser simples, sorriso verdadeiro, corpo atraente, fala empolgante. Ela gostava de estar ao seu lado.
Quando se conheceram? No clube, domingo à noite. Ele empolgado no rock nacional, ela querendo relaxar. Coincidindo em gostos, trocaram ideias. E ficaram juntos. A partir de então, marcaram de se encontrar no terminal rodoviário de Campo Grande. Ainda não era um namoro oficial. Era para se conhecerem e trocarem afagos.
Embora independente, ela se sentia balançada na relação fortuita. A experiência de outros namorados e agora na tarefa de iniciar com um rapaz que pela primeira vez se envolvia com uma garota, a fez gostar da posição de condutora.
O estudante, vivendo à custa dos pais, nem por isso mais feliz, via na menina um apoio para adentrar na fase adulta e provar que é capaz de libertar-se da dependência financeira e de mil outras inconstâncias que perpassam por sua cabeça.
Ela era mais que um corpo acolhedor, lábios sedosos. Tinha a paciência de escutá-lo, indicando caminhos para solucionar ou contornar conflitos que o perturbavam.
Mas a relação acabou. Ela disse que tinha arranjado um namorado, coisa assim. Ele não se lembrava muito bem. O fato é que pediu para que não a esperasse mais no terminal. Que dureza! Agarrado que estava àquela menina e à segurança de poder ter uma pessoa para chamar de sua.
Como era garoto, sofrera, desesperara-se, porém, superaria o baque. Numa noite, uma colega da rua o achou legal e trocam ideias e carinhos.
“Que bom ter alguém... A melhor cura para o amor que termina é a disposição para o outro amor que inicia,” repete a frase que ouvira e gostou, enquanto pega na carteira a foto 3x4 da nova namorada.
LEVEI QUASE três horas papeando com o florista. Era para ser uma visita rápida, não mais do que meia hora. Tinha eu tempo de sobra, mas também tinha a intenção de passar por outros lugares antes de retornar para casa.
Quando se decide pôr em prática uma curiosidade há muito adiada, é difícil se preocupar com o tempo.
Aquela floricultura eu conhecia a meses. Por causa das eventuais passadas que eu dava pela calçada, sabia que a loja tinha dias bem movimentados. Porém, a pressa nunca me dando tranquilidade para adentrar.
Quando vi, havia concluído a busca pela gravata e o novo par de meias, tomado o metrô e saído na minha estação. O relógio no meu pulso autorizava o passeio na floricultura.
A iniciativa saiu melhor do que eu podia imaginar. O senhor estava menos atarefado naquela terça-feira à tarde.
Fiquei tonto com as minúcias. O senhor parecia uma enciclopédia ambulante. Ele sabia tudo sobre flores, formatos, cores, origens. Os cuidados requeridos. A quantidade de água, de terra. O ambiente adequado para sua conservação. Quantos tipos de rosas, pétalas, cravos.
Estarrecido, eu matutava até onde pode ir o cérebro humano? Que genial capacidade para organizar e classificar.
No caminho de casa, trazia a cabeça enfiada numa empreitada semelhante a do florista. Nada tinha a ver com flores, a não ser que se considere a mulher como uma flor.
Ganho a vida como comissário de bordo. Vivo nas nuvens. Deixo-me seduzir como uma criança que acredita em Papai Noel. Ao classificar as mulheres quanto à idade no quesito acolhimento, eu considero a de quarenta anos a melhor opção.
A mulher jovem está mais preocupada em lamber o próprio ego do que dar carinho.
Basta olhar como desfilam as moças na rua. Que vidro de carro, de vitrine é poupado do exibicionismo de seu traseiro? Boa parte do tempo procurando nos homens o olhar cobiçoso.
Amar é verbo reflexivo para a jovem: ela se ama.
Namorá-la é como tolerar artista pop, que quer dez mil toalhas e pensa que é semideus dando ar da graça nos palcos brasileiros.
Pouco percebe o cara ao lado.
Esquiva-se dos beijos, dos carinhos, como uma gata manhosa. Jamais está satisfeita. Ora quer ser adulta e veste-se como tal. Noutro momento, dá na telha mergulhar numa rebeldia, e vem o shortinho, a calça teen e ideias mimadas.
A mulher de quarenta anos, ou acima, é diferente.
Acolhe-me como a um filho. Nutri-me. Dá a impressão de que o homem é indispensável em sua vida.
Se ela se mostra caprichosa numa rápida recaída, logo estará pronta para comandar um exército de pequenos detalhes como a casa, o orçamento doméstico, a vida regrada, a escola dos filhos.
No amor não há igual. Se a jovem tem o corpo desejado à primeira vista, somente a mulher de quarenta anos leva o homem ao nirvana.
Tudo bem que há exceções. Mulheres de quarenta anos com mentalidade de garota. Moças prodígios com atitudes de maduras.
E a etiqueta social? De onde aprendeu a falar, a sentar-se, a andar e a gesticular de maneira que me deixa de queixo caído?
Abro a porta do apartamento. Está cheirando a perfume. Hoje foi dia da faxineira, contratada por minha namorada. Deve ter saído há meia hora, visto que agora são 18 horas. Gosto de rever meu apartamento. Ser comissário de bordo dá a sensação de que cada vez que viajo posso não voltar para casa.
Graças à mulher de quarenta anos, meu apartamento tem este aroma de limpeza, ao ter indicado a faxineira e fiscalizar seu trabalho. Há compras na geladeira e roupa lavada.
Vou tomar banho e me vestir para que eu não faça feio hoje à noite diante dela. Vamos jantar na companhia de seus filhos adolescentes.
Talvez a vida de trintão solteiro esteja com os dias contados.
Quando se decide pôr em prática uma curiosidade há muito adiada, é difícil se preocupar com o tempo.
Aquela floricultura eu conhecia a meses. Por causa das eventuais passadas que eu dava pela calçada, sabia que a loja tinha dias bem movimentados. Porém, a pressa nunca me dando tranquilidade para adentrar.
Quando vi, havia concluído a busca pela gravata e o novo par de meias, tomado o metrô e saído na minha estação. O relógio no meu pulso autorizava o passeio na floricultura.
A iniciativa saiu melhor do que eu podia imaginar. O senhor estava menos atarefado naquela terça-feira à tarde.
Fiquei tonto com as minúcias. O senhor parecia uma enciclopédia ambulante. Ele sabia tudo sobre flores, formatos, cores, origens. Os cuidados requeridos. A quantidade de água, de terra. O ambiente adequado para sua conservação. Quantos tipos de rosas, pétalas, cravos.
Estarrecido, eu matutava até onde pode ir o cérebro humano? Que genial capacidade para organizar e classificar.
No caminho de casa, trazia a cabeça enfiada numa empreitada semelhante a do florista. Nada tinha a ver com flores, a não ser que se considere a mulher como uma flor.
Ganho a vida como comissário de bordo. Vivo nas nuvens. Deixo-me seduzir como uma criança que acredita em Papai Noel. Ao classificar as mulheres quanto à idade no quesito acolhimento, eu considero a de quarenta anos a melhor opção.
A mulher jovem está mais preocupada em lamber o próprio ego do que dar carinho.
Basta olhar como desfilam as moças na rua. Que vidro de carro, de vitrine é poupado do exibicionismo de seu traseiro? Boa parte do tempo procurando nos homens o olhar cobiçoso.
Amar é verbo reflexivo para a jovem: ela se ama.
Namorá-la é como tolerar artista pop, que quer dez mil toalhas e pensa que é semideus dando ar da graça nos palcos brasileiros.
Pouco percebe o cara ao lado.
Esquiva-se dos beijos, dos carinhos, como uma gata manhosa. Jamais está satisfeita. Ora quer ser adulta e veste-se como tal. Noutro momento, dá na telha mergulhar numa rebeldia, e vem o shortinho, a calça teen e ideias mimadas.
A mulher de quarenta anos, ou acima, é diferente.
Acolhe-me como a um filho. Nutri-me. Dá a impressão de que o homem é indispensável em sua vida.
Se ela se mostra caprichosa numa rápida recaída, logo estará pronta para comandar um exército de pequenos detalhes como a casa, o orçamento doméstico, a vida regrada, a escola dos filhos.
No amor não há igual. Se a jovem tem o corpo desejado à primeira vista, somente a mulher de quarenta anos leva o homem ao nirvana.
Tudo bem que há exceções. Mulheres de quarenta anos com mentalidade de garota. Moças prodígios com atitudes de maduras.
E a etiqueta social? De onde aprendeu a falar, a sentar-se, a andar e a gesticular de maneira que me deixa de queixo caído?
Abro a porta do apartamento. Está cheirando a perfume. Hoje foi dia da faxineira, contratada por minha namorada. Deve ter saído há meia hora, visto que agora são 18 horas. Gosto de rever meu apartamento. Ser comissário de bordo dá a sensação de que cada vez que viajo posso não voltar para casa.
Graças à mulher de quarenta anos, meu apartamento tem este aroma de limpeza, ao ter indicado a faxineira e fiscalizar seu trabalho. Há compras na geladeira e roupa lavada.
Vou tomar banho e me vestir para que eu não faça feio hoje à noite diante dela. Vamos jantar na companhia de seus filhos adolescentes.
Talvez a vida de trintão solteiro esteja com os dias contados.
A SEMANA CULTURAL seria parte da recepção que os veteranos tramaram para agraciar os calouros. Havia diversas atividades espalhadas pelos três períodos do dia letivo. A aula inaugural se resumiria a um bem-vindo emitido pelos professores que se prontificaram a participar da recepção.
Ainda que fosse somente uma comemoraçãozinha, o impacto era aumentado pela emoção de passar a frequentar a universidade. No rol, haveria atividades para todos os gostos. Jogos lúdicos, coral de canto, passeio pelo centro da cidade para citar apenas atividades da agenda.
Em vez de se munir de tesouras e latas de tintas, os veteranos do segundo ano optaram por atividades que teriam um cunho mais de acolhimento do que de intimidação. Nada de vozes gritando insultos e constrangimentos de alucinados nos ouvidos dos calouros para imprimir medo ou pânico.
A iniciativa espalharia amor e ódio pelo campus, rachando opiniões: uns aplaudindo e outros detestando a tentativa de mudança de atitude.
“Coisa de fresco, de veado” certos alunos da engenharia vociferavam o incômodo por não conseguirem conceber outra forma de recepção aos calouros que não fossem as palavras de baixo calão, as ofensas gratuitas, o matar formiga no grito, deixar carecas os meninos, tingir a pele das meninas, ver humilhado o semelhante através de chavões que ouviram quando entraram na faculdade e que consideram o máximo de sabedoria.
Graças aos céus, fazia parte da turma da psico, pensou consigo o calouro.
Já bastavam os problemas como se estabelecer na cidade, ficar pela primeira vez fora de casa e outros inúmeros que o jovem ao sair de casa pela primeira vez enfrenta para morar numa cidade distante. Definitivamente, o que menos faria falta era ter meia dúzia de bobos humilhando-o em vez de dando apoio.
Ela havia lhe sorrido antes. A estudante era sua veterana. Pelo modo de falar, de se mostrar atenta às palavras dos calouros, de se interessar de modo genuíno pelo outro, acabou cativando-o.
O alvoroço que tudo aquilo representava sequer o fez prestar atenção nela de outra maneira que excedesse o simples nível da simpatia.
Na sala 1, que também servia de auditório do campus, estava tomada de calouros. Todos sentados nas poltronas. Os veteranos circulavam pelos corredores, próximo do palco ou em cima deste acertando detalhes de som, atendendo aos professores que estivessem à mesa a palestrar diante da atenta plateia.
Em seguida viria a apresentação musical. O recinto sofreu modificação. Agora, era um piano e duas cadeiras que tomavam atenção no palco. Ela se sentou ao piano e tocou. Que maravilha. Ele que era roqueiro radical na sua Caçapava, ficou boquiaberto.
Tá, os despeitados o magoaram quando num show em São Paulo disseram: “Pô, cara, deve ser complicado ser roqueiro no meio de caipiras”.
De fato, o sertanejo é a cantiga da região, mas tinha sim amigos roqueiros, festas roqueiras, locais roqueiros, e só ia a São Paulo para ver um show internacional. Fora isso, o Vale oferecia o que ele precisava em termos de rock.
Vendo os lindos dedos deslizarem sobre as teclas, o empenho da menina veterana, a graciosidade, ficou assim tonto. Empolgou-se.
Ela era linda? Encantadora? Sim, sim, sim.
Longe do biotipo de uma modelo. Era miúda, baixinha, fisionomia comum.
Contudo o rosto espelhava uma tranquilidade, uma paz. Era tudo o que ele estava precisando nesse tumultuado momento de chegada ao meio universitário, jogado numa cidade desconhecida e a quilômetros do ninho materno.
Ele que nunca tinha visto alguém tocar piano ao vivo. Ele que não morria de amor pelos clássicos, a partir daquela noite compraria Vivaldi, Bach e Chopin.
A intenção com os clássicos não seria impressionar a menina. Queria somente promover um ótimo fundo musical quando pensasse na pianista, e rabiscasse durante cinco ou seis madrugadas e fins de semana as primeiras poesias, compondo a coletânea intitulada: A Pianista.
Ainda que fosse somente uma comemoraçãozinha, o impacto era aumentado pela emoção de passar a frequentar a universidade. No rol, haveria atividades para todos os gostos. Jogos lúdicos, coral de canto, passeio pelo centro da cidade para citar apenas atividades da agenda.
Em vez de se munir de tesouras e latas de tintas, os veteranos do segundo ano optaram por atividades que teriam um cunho mais de acolhimento do que de intimidação. Nada de vozes gritando insultos e constrangimentos de alucinados nos ouvidos dos calouros para imprimir medo ou pânico.
A iniciativa espalharia amor e ódio pelo campus, rachando opiniões: uns aplaudindo e outros detestando a tentativa de mudança de atitude.
“Coisa de fresco, de veado” certos alunos da engenharia vociferavam o incômodo por não conseguirem conceber outra forma de recepção aos calouros que não fossem as palavras de baixo calão, as ofensas gratuitas, o matar formiga no grito, deixar carecas os meninos, tingir a pele das meninas, ver humilhado o semelhante através de chavões que ouviram quando entraram na faculdade e que consideram o máximo de sabedoria.
Graças aos céus, fazia parte da turma da psico, pensou consigo o calouro.
Já bastavam os problemas como se estabelecer na cidade, ficar pela primeira vez fora de casa e outros inúmeros que o jovem ao sair de casa pela primeira vez enfrenta para morar numa cidade distante. Definitivamente, o que menos faria falta era ter meia dúzia de bobos humilhando-o em vez de dando apoio.
Ela havia lhe sorrido antes. A estudante era sua veterana. Pelo modo de falar, de se mostrar atenta às palavras dos calouros, de se interessar de modo genuíno pelo outro, acabou cativando-o.
O alvoroço que tudo aquilo representava sequer o fez prestar atenção nela de outra maneira que excedesse o simples nível da simpatia.
Na sala 1, que também servia de auditório do campus, estava tomada de calouros. Todos sentados nas poltronas. Os veteranos circulavam pelos corredores, próximo do palco ou em cima deste acertando detalhes de som, atendendo aos professores que estivessem à mesa a palestrar diante da atenta plateia.
Em seguida viria a apresentação musical. O recinto sofreu modificação. Agora, era um piano e duas cadeiras que tomavam atenção no palco. Ela se sentou ao piano e tocou. Que maravilha. Ele que era roqueiro radical na sua Caçapava, ficou boquiaberto.
Tá, os despeitados o magoaram quando num show em São Paulo disseram: “Pô, cara, deve ser complicado ser roqueiro no meio de caipiras”.
De fato, o sertanejo é a cantiga da região, mas tinha sim amigos roqueiros, festas roqueiras, locais roqueiros, e só ia a São Paulo para ver um show internacional. Fora isso, o Vale oferecia o que ele precisava em termos de rock.
Vendo os lindos dedos deslizarem sobre as teclas, o empenho da menina veterana, a graciosidade, ficou assim tonto. Empolgou-se.
Ela era linda? Encantadora? Sim, sim, sim.
Longe do biotipo de uma modelo. Era miúda, baixinha, fisionomia comum.
Contudo o rosto espelhava uma tranquilidade, uma paz. Era tudo o que ele estava precisando nesse tumultuado momento de chegada ao meio universitário, jogado numa cidade desconhecida e a quilômetros do ninho materno.
Ele que nunca tinha visto alguém tocar piano ao vivo. Ele que não morria de amor pelos clássicos, a partir daquela noite compraria Vivaldi, Bach e Chopin.
A intenção com os clássicos não seria impressionar a menina. Queria somente promover um ótimo fundo musical quando pensasse na pianista, e rabiscasse durante cinco ou seis madrugadas e fins de semana as primeiras poesias, compondo a coletânea intitulada: A Pianista.
UM DITADO antigo a sacudia mais que a tensão pré-operatória. Trata-se da frase que ouvia quando criança: ‘quem não tem o que fazer, inventa’. Na época, ficava irritada quando a avó disparava essa frase para ela, toda vez que a avó ficava contrariada quando ela se envolvia em atividade que teria pouco ou nenhum retorno prático.
Se no tempo de adolescente se aborrecia com aquela fala, hoje, é sua consciência que repete o sermão. Para ser sincera, ela mesma tinha a nítida impressão que a vontade que a motivara para estar ali prestes a ter o estômago rasgado era fútil, coisa de quem não tem o que fazer.
Mas agora não daria para recuar.
Por que recuaria? Basta lembrar o que motivou o firme desejo de mudança.
Que se recorde, nunca tivera um corpo escultural. Contudo, depois da gravidez, a situação de sua barriga se complicou. Se aos vinte anos tinha orgulho de colocar um biquíni ou qualquer peça que deixasse a barriga à vista, mal chegou aos trinta para a decepção ofuscar o prazer de ir à praia.
Torturava-se.
À praia, quando acontecia de ir, tinha poucas opções. O maiô se impôs de vez, sem espaço para os shortinhos, muito menos para os biquínis. A cintura ainda vinha rodeada de uma toalha, que a moda chama de canga.
Entrar na água, que tormento. Tinha que tirar a canga e, envergonhada, ir-se timidamente enfrentar olhares. Se as ondas estivessem tranquilas, a entrada seria relaxante, pois poderia abaixar-se, molhar os braços, e buscar posição que lhe fosse confortável.
Mas nem sempre o mar estava para peixe. Quando via, a força da água a atingia, frustrando os seus planos, perturbando o ritmo que desejava dar ao mergulho.
O alívio vinha quando submersa. Com o pescoço acima da água estava mais natural. Naquela condição, todas eram iguais: jovenzinhas esbeltas e mulheres mais fofinhas.
A tortura não parava por aí. A presença do marido igualmente a oprimia.
Ele procurava ser super gentil.
“Imagina! Você não está gorda. Pelo contrário, está no ponto”. Estas palavras amenizavam, mas nem de longe resolviam o problema.
Ele a ama. Nota-se.
Mas era homem, insistia ela. Como não ver que os olhos dele, quase sem querer, seguem os ventres mais salientes que desfilam a beira-mar? Punha a mão no fogo por ele, que jamais seria traída. Como impedir, contudo, o estrago da comparação, ainda que não admitida ou sequer percebida pelo marido, diante das outras mais atraentes.
Por vezes sentia que era injusta com seu corpo e com seu marido. O primeiro sadio, sempre a manteve longe dos médicos. A sua saúde a possibilitava inclusive fazer caminhadas e andar de bicicleta como modo de garantir exercícios diários. O segundo, homem carinhoso, honesto e incentivador, tudo de bom.
Por que então a insegurança a perturbava.
O que a fazia sofrer era a impressão de que não era atraente suficiente para si nem para seu marido. Esse pensamento a perturbou tanto, tanto, que não teve jeito. Apelou para a cirurgia.
Não foi de uma hora que decidira aderir à ideia, claro.
Havia anos que ouvira falar na abdominoplastia. Outros tantos anos passou conjeturando se deveria ou não se submeter. Pesquisava e sondava riscos e benefícios. Concluiu que a balança tendia favoravelmente no seu caso.
“Se nesta altura da vida eu não puder investir em algo que me fará sentir melhor comigo mesma, do que valeu anos de trabalho e empenho?”, tinha sido a palavra final para tomar a coragem.
Após a cirurgia, ela vai para o quarto. Um grande corte à altura da cintura, de uma ponta a outra, dá mostra que a intervenção cirúrgica profunda e agressiva requer um bom tempo de repouso.
Com a cabeça ainda dopada, horas mais tarde despertaria com a sensação do dever cumprido.
Se no tempo de adolescente se aborrecia com aquela fala, hoje, é sua consciência que repete o sermão. Para ser sincera, ela mesma tinha a nítida impressão que a vontade que a motivara para estar ali prestes a ter o estômago rasgado era fútil, coisa de quem não tem o que fazer.
Mas agora não daria para recuar.
Por que recuaria? Basta lembrar o que motivou o firme desejo de mudança.
Que se recorde, nunca tivera um corpo escultural. Contudo, depois da gravidez, a situação de sua barriga se complicou. Se aos vinte anos tinha orgulho de colocar um biquíni ou qualquer peça que deixasse a barriga à vista, mal chegou aos trinta para a decepção ofuscar o prazer de ir à praia.
Torturava-se.
À praia, quando acontecia de ir, tinha poucas opções. O maiô se impôs de vez, sem espaço para os shortinhos, muito menos para os biquínis. A cintura ainda vinha rodeada de uma toalha, que a moda chama de canga.
Entrar na água, que tormento. Tinha que tirar a canga e, envergonhada, ir-se timidamente enfrentar olhares. Se as ondas estivessem tranquilas, a entrada seria relaxante, pois poderia abaixar-se, molhar os braços, e buscar posição que lhe fosse confortável.
Mas nem sempre o mar estava para peixe. Quando via, a força da água a atingia, frustrando os seus planos, perturbando o ritmo que desejava dar ao mergulho.
O alívio vinha quando submersa. Com o pescoço acima da água estava mais natural. Naquela condição, todas eram iguais: jovenzinhas esbeltas e mulheres mais fofinhas.
A tortura não parava por aí. A presença do marido igualmente a oprimia.
Ele procurava ser super gentil.
“Imagina! Você não está gorda. Pelo contrário, está no ponto”. Estas palavras amenizavam, mas nem de longe resolviam o problema.
Ele a ama. Nota-se.
Mas era homem, insistia ela. Como não ver que os olhos dele, quase sem querer, seguem os ventres mais salientes que desfilam a beira-mar? Punha a mão no fogo por ele, que jamais seria traída. Como impedir, contudo, o estrago da comparação, ainda que não admitida ou sequer percebida pelo marido, diante das outras mais atraentes.
Por vezes sentia que era injusta com seu corpo e com seu marido. O primeiro sadio, sempre a manteve longe dos médicos. A sua saúde a possibilitava inclusive fazer caminhadas e andar de bicicleta como modo de garantir exercícios diários. O segundo, homem carinhoso, honesto e incentivador, tudo de bom.
Por que então a insegurança a perturbava.
O que a fazia sofrer era a impressão de que não era atraente suficiente para si nem para seu marido. Esse pensamento a perturbou tanto, tanto, que não teve jeito. Apelou para a cirurgia.
Não foi de uma hora que decidira aderir à ideia, claro.
Havia anos que ouvira falar na abdominoplastia. Outros tantos anos passou conjeturando se deveria ou não se submeter. Pesquisava e sondava riscos e benefícios. Concluiu que a balança tendia favoravelmente no seu caso.
“Se nesta altura da vida eu não puder investir em algo que me fará sentir melhor comigo mesma, do que valeu anos de trabalho e empenho?”, tinha sido a palavra final para tomar a coragem.
Após a cirurgia, ela vai para o quarto. Um grande corte à altura da cintura, de uma ponta a outra, dá mostra que a intervenção cirúrgica profunda e agressiva requer um bom tempo de repouso.
Com a cabeça ainda dopada, horas mais tarde despertaria com a sensação do dever cumprido.
NADA MELHOR do que o tempo para nos despir de crenças, valores que antes guiavam nossa atitude e em certo momento passam a ser obsoletas.
Sabe aquela certeza que se tinha na adolescência? Vira pó na fase adulta.
Óbvio que outras tantas permanecem: umas adaptadas à idade madura, outras nem tanto, mas existindo por força do hábito.
Na minha adolescência, tinha horror à palavra amor platônico. Nada contra a expressão. Até caia bem ler novelas ou romances do século 19 nos quais predominavam essa história.
Se eu ficava aborrecido é porque sentia incômodo em estar preso nesse tal de amor platônico, sem achar condições de pular para um mais de carne e osso.
E mais irritado eu ficava quando alguém vendo meu desejo por uma menina dizia “sonhar não custa nada”, que para mim na época era mais uma maneira de traduzir o amor platônico.
Não tinha namorada fixa, tampouco era popular entre as garotas. Sempre deixado de lado nos bailes, nas festinhas.
Se eu gostava do sexo oposto? Claro. Não via a hora de chegar próximo de uma garota, torcendo para que ela aceitasse meu papo. Aí podíamos dar uma escapada e correr para um lugar mais isolado. Papear, beijar.
A sorte é que ela me abandonava. E raro eu não ficar plantado. Os amigos (da onça) azarando e eu chupando o dedo. Olhando de cima dos meus trinta e poucos anos, é até cômico. Mas nada tem de engraçado estar na pele de um adolescente que se sente diminuído. Só mera nostalgia forçada.
Para não pirar, e mesmo por não beber nem usar droga, a dança me servia como válvula de escape. Ainda bem que estávamos na década de oitenta, onde pular à moda Arnaldo Antunes era tido como tolerável.
A dança me ajudou a desencanar, diminuir a pressão em conquistar uma namorada. Quando fiquei mais relaxado, não é que a sorte soprou a meu favor.
A primeira namorada chegou.
Sabe um mordomo ou um garçom exímio na arte de servir? Este era eu para com ela.
Umas amigas até brigavam comigo.
“Acorda bobo, ela está te usando”, diziam.
Pena que ela é quem acabou com o relacionamento.
Depois vieram mais. Atordoava-me a profusão, a rotatividade, me sentia como que incapaz de manter uma menina que me fez sonhar por dias e que na pracinha do bairro eu pedi em namoro. Eu queria me agarrar a ela, e ela fugia.
Sequer sabia que estava inaugurando o que meu filho chama de ficar.
Apesar do sofrimento gerado pela perda, tinha a alegria de uma nova conquista.
A alegria e desencanto de cada conquista serviram para retirar os mitos, as fantasias que envolviam a figura do amor, da mulher em meus anos juvenis. Vai ver que é por isso que hoje em dia quando encontro uma mulher que força os meus olhos em sua direção, penso no quão cômodo é o amor platônico.
Atitude abominada anos atrás, agora me chega como síntese dos percalços amorosos, sinalizando a comodidade que é estar na posição de espectador, apontando as vantagens de não se envolver carnalmente.
As vantagens são as mais variadas. Nada de sofrimento, de ser humilhado, ciúme, exclusividade. Conta bancária protegida, livre de cerceamento, liberdade de ir e vir conservada, sem aliança de qualquer espécie. Sem bafo de cerveja, ronco, impurezas que exalam do corpo enamorado.
Seria esta uma encanação de médico legista? Ou se tivesse outra profissão eu pensaria diferente? Acho que não tem nada a ver. Há tantos médicos legistas por aí que se permitem se apaixonar. As frustrações acumuladas é que me impedem de ver o encanto que pode resultar de um amor genuíno.
Em minha opinião, porém, o amor platônico é tão prático: quando acaba, nada de xingamentos, humilhações, desdém, palavras de baixo calão, ameaças.
Sabe aquela certeza que se tinha na adolescência? Vira pó na fase adulta.
Óbvio que outras tantas permanecem: umas adaptadas à idade madura, outras nem tanto, mas existindo por força do hábito.
Na minha adolescência, tinha horror à palavra amor platônico. Nada contra a expressão. Até caia bem ler novelas ou romances do século 19 nos quais predominavam essa história.
Se eu ficava aborrecido é porque sentia incômodo em estar preso nesse tal de amor platônico, sem achar condições de pular para um mais de carne e osso.
E mais irritado eu ficava quando alguém vendo meu desejo por uma menina dizia “sonhar não custa nada”, que para mim na época era mais uma maneira de traduzir o amor platônico.
Não tinha namorada fixa, tampouco era popular entre as garotas. Sempre deixado de lado nos bailes, nas festinhas.
Se eu gostava do sexo oposto? Claro. Não via a hora de chegar próximo de uma garota, torcendo para que ela aceitasse meu papo. Aí podíamos dar uma escapada e correr para um lugar mais isolado. Papear, beijar.
A sorte é que ela me abandonava. E raro eu não ficar plantado. Os amigos (da onça) azarando e eu chupando o dedo. Olhando de cima dos meus trinta e poucos anos, é até cômico. Mas nada tem de engraçado estar na pele de um adolescente que se sente diminuído. Só mera nostalgia forçada.
Para não pirar, e mesmo por não beber nem usar droga, a dança me servia como válvula de escape. Ainda bem que estávamos na década de oitenta, onde pular à moda Arnaldo Antunes era tido como tolerável.
A dança me ajudou a desencanar, diminuir a pressão em conquistar uma namorada. Quando fiquei mais relaxado, não é que a sorte soprou a meu favor.
A primeira namorada chegou.
Sabe um mordomo ou um garçom exímio na arte de servir? Este era eu para com ela.
Umas amigas até brigavam comigo.
“Acorda bobo, ela está te usando”, diziam.
Pena que ela é quem acabou com o relacionamento.
Depois vieram mais. Atordoava-me a profusão, a rotatividade, me sentia como que incapaz de manter uma menina que me fez sonhar por dias e que na pracinha do bairro eu pedi em namoro. Eu queria me agarrar a ela, e ela fugia.
Sequer sabia que estava inaugurando o que meu filho chama de ficar.
Apesar do sofrimento gerado pela perda, tinha a alegria de uma nova conquista.
A alegria e desencanto de cada conquista serviram para retirar os mitos, as fantasias que envolviam a figura do amor, da mulher em meus anos juvenis. Vai ver que é por isso que hoje em dia quando encontro uma mulher que força os meus olhos em sua direção, penso no quão cômodo é o amor platônico.
Atitude abominada anos atrás, agora me chega como síntese dos percalços amorosos, sinalizando a comodidade que é estar na posição de espectador, apontando as vantagens de não se envolver carnalmente.
As vantagens são as mais variadas. Nada de sofrimento, de ser humilhado, ciúme, exclusividade. Conta bancária protegida, livre de cerceamento, liberdade de ir e vir conservada, sem aliança de qualquer espécie. Sem bafo de cerveja, ronco, impurezas que exalam do corpo enamorado.
Seria esta uma encanação de médico legista? Ou se tivesse outra profissão eu pensaria diferente? Acho que não tem nada a ver. Há tantos médicos legistas por aí que se permitem se apaixonar. As frustrações acumuladas é que me impedem de ver o encanto que pode resultar de um amor genuíno.
Em minha opinião, porém, o amor platônico é tão prático: quando acaba, nada de xingamentos, humilhações, desdém, palavras de baixo calão, ameaças.
ONTEM ME aconteceu algo diferente. Deixando de lamentar as minhas queixas eternas, percebi alguém além de mim, de meu umbigo, digno de observação. Meu tormento é querer ganhar uma comissão mais gorda nas transações comerciais que faço como representante. Para dar entrada num carro novo, numa casa, montar o lar, casar e ter filhos.
Já conto tantos planos frustrados. Queria ter podido continuar estudando, me especializar para ter acesso a uma carreira mais estável e promissora.
A vida vai nos empurrando para frente. Como não sou de ficar choramingando pelos cantos, descobri uma maneira de compensar a interrupção da carreira ou da perseguição de um emprego com maior status.
Entrar na área de vendas e quem sabe com tino para os negócios, ganhar tão bem ou mais quanto os doutores. Daí eu achar interessante o mergulho na atividade de representante comercial.
Meu ritmo passou a ser alucinado para melhorar meu padrão de vida. Talvez por isso quando percebo alguém que padece por assunto que eu chamaria de ninharia, fico abismada.
Tenho 30 anos, sou formada em comércio exterior e porto-alegrense. Tenho um namorado dentista, que vive me enrolando em tomar a iniciativa de proposta mais séria, mas que no fundo eu nem ligo. Não quer me pedir em casamento, mas se o fizesse talvez eu não aceitasse, pois ele está no começo da carreira, e ganha muito menos que eu.
E ela, a pessoa cujo ritmo de vida me incomoda? É minha colega de departamento e há anos na empresa. Meses atrás eu me perguntava o que houve de errado com ela que está há mais de 20 anos nesta atividade e não galgou cargo de chefia?
“Só pode ser falta de ambição ou ter pouco talento para se impor no mercado competitivo”, este julgamento saiu tão automático de minha cabeça que fiquei chateada.
Procurei tirar isto da cabeça. Afinal, são poucos os que mandam e um montão que se submetem. E quem disse que quando eu tiver a idade dela eu estarei numa posição melhor? Os nossos planos podem falhar. Nada é tão fácil como os livros de autoajuda pregam.
À sua mesa, tem uns três ou quatro vasos de plantas.
Esquisito, raro as mulheres mais velhas não terem apego às plantas. O que me chama mais a atenção é a dedicação quase insana que devota aos seus cachorros: um casal de vira-latas com três filhotes.
Digo insana por que sequer me vejo dedicando um quinto desta atenção para minha mãe ou namorado. E para me livrar de remorsos, minhas colegas seguem o mesmo caminho. Amo meus pais e adoro meu namorado, mas longe de mim um comportamento como da minha colega da mesa ao lado diante de seus cães.
Certo dia, ela estava transtornada. O cachorro estava passando mal ou indisposto, e ela se debulhava em lágrimas.
O seu devotamento me transtornou. Se ela tivesse parte desta energia para os negócios? Ela é separada do marido, característica que partilha com boa parte das mulheres de mais de 50 anos no ramo.
Talvez por não ter filhos nem netos, toda sua maternidade seja canalizada para os bichos de estimação. Ela sorri quando eles sorriem, sofre quando eles sofrem. Na sua agenda diária, as necessidades dos cães são prioridade.
Um envolvimento assim chega a me cansar.
Eu nem penso em devoção animalesca. Quando criança, tive um gato que muito me apeguei. E parei por aí.
Da entrada na faculdade para cá seria impossível lidar com cachorro e sua sujeirada de fezes e xixis espalhados no corredor do quintal, ou com as marcas de patas no chão da cozinha, na sala e, pior, em cima da cama. A gritaria que fariam para perturbar meu sono. Suas necessidades de comida, vacina, que atrapalhariam minha agenda ou tempo de lazer.
Não, isto não é para mim.
Será que um dia eu estarei assim: dependente de um bicho para me fazer companhia? Tomara que não. Farei de tudo para as relações familiares não malograrem? Se casada, manter marido e filhos atentos à necessidade da família. Se solteira, mergulhar na carreira.
Já conto tantos planos frustrados. Queria ter podido continuar estudando, me especializar para ter acesso a uma carreira mais estável e promissora.
A vida vai nos empurrando para frente. Como não sou de ficar choramingando pelos cantos, descobri uma maneira de compensar a interrupção da carreira ou da perseguição de um emprego com maior status.
Entrar na área de vendas e quem sabe com tino para os negócios, ganhar tão bem ou mais quanto os doutores. Daí eu achar interessante o mergulho na atividade de representante comercial.
Meu ritmo passou a ser alucinado para melhorar meu padrão de vida. Talvez por isso quando percebo alguém que padece por assunto que eu chamaria de ninharia, fico abismada.
Tenho 30 anos, sou formada em comércio exterior e porto-alegrense. Tenho um namorado dentista, que vive me enrolando em tomar a iniciativa de proposta mais séria, mas que no fundo eu nem ligo. Não quer me pedir em casamento, mas se o fizesse talvez eu não aceitasse, pois ele está no começo da carreira, e ganha muito menos que eu.
E ela, a pessoa cujo ritmo de vida me incomoda? É minha colega de departamento e há anos na empresa. Meses atrás eu me perguntava o que houve de errado com ela que está há mais de 20 anos nesta atividade e não galgou cargo de chefia?
“Só pode ser falta de ambição ou ter pouco talento para se impor no mercado competitivo”, este julgamento saiu tão automático de minha cabeça que fiquei chateada.
Procurei tirar isto da cabeça. Afinal, são poucos os que mandam e um montão que se submetem. E quem disse que quando eu tiver a idade dela eu estarei numa posição melhor? Os nossos planos podem falhar. Nada é tão fácil como os livros de autoajuda pregam.
À sua mesa, tem uns três ou quatro vasos de plantas.
Esquisito, raro as mulheres mais velhas não terem apego às plantas. O que me chama mais a atenção é a dedicação quase insana que devota aos seus cachorros: um casal de vira-latas com três filhotes.
Digo insana por que sequer me vejo dedicando um quinto desta atenção para minha mãe ou namorado. E para me livrar de remorsos, minhas colegas seguem o mesmo caminho. Amo meus pais e adoro meu namorado, mas longe de mim um comportamento como da minha colega da mesa ao lado diante de seus cães.
Certo dia, ela estava transtornada. O cachorro estava passando mal ou indisposto, e ela se debulhava em lágrimas.
O seu devotamento me transtornou. Se ela tivesse parte desta energia para os negócios? Ela é separada do marido, característica que partilha com boa parte das mulheres de mais de 50 anos no ramo.
Talvez por não ter filhos nem netos, toda sua maternidade seja canalizada para os bichos de estimação. Ela sorri quando eles sorriem, sofre quando eles sofrem. Na sua agenda diária, as necessidades dos cães são prioridade.
Um envolvimento assim chega a me cansar.
Eu nem penso em devoção animalesca. Quando criança, tive um gato que muito me apeguei. E parei por aí.
Da entrada na faculdade para cá seria impossível lidar com cachorro e sua sujeirada de fezes e xixis espalhados no corredor do quintal, ou com as marcas de patas no chão da cozinha, na sala e, pior, em cima da cama. A gritaria que fariam para perturbar meu sono. Suas necessidades de comida, vacina, que atrapalhariam minha agenda ou tempo de lazer.
Não, isto não é para mim.
Será que um dia eu estarei assim: dependente de um bicho para me fazer companhia? Tomara que não. Farei de tudo para as relações familiares não malograrem? Se casada, manter marido e filhos atentos à necessidade da família. Se solteira, mergulhar na carreira.
FALTA POUCO. Em vinte minutinhos mais, estarei diante do mar.
Nas curvas, vejo as primeiras imagens de Caraguatatuba. É o mirante. Sobre a mureta à minha direita, o céu e o mar se encontram. Lá embaixo dá para ver as casinhas e o beira mar. A natureza transborda através de árvores, vegetação densa e rasteira, areia e vento.
Do espelho do retrovisor noto o motorista apressado com sua SD10 querendo passagem. Dá vontade de pedir para que passe por cima, visto que o cara nem respeita que estamos numa descida íngreme e que à minha frente segue uma fila de veículos, todos atrás do caminhão. Ainda que o alucinado jogue farol alto em cima de mim, desta vez nada de eu arriscar a levar multa ao ir para o acostamento somente para satisfazer o capricho de ultrapassar do bonito.
Para relaxar, ergo o retrovisor para a luz deixar de me perturbar e repouso minha visão na bela paisagem ao redor, sem me distrair da tarefa de seguir com a máxima cautela o movimento serra abaixo.
Fora esse trecho de serra, a pista está ótima, pouco movimentada, apesar do feriado.
A Páscoa é um dos poucos feriados que a rodovia dos Tamoios não fica insuportável. Eu que o diga. Sou praieira de carteirinha. Curto sair do estresse. Preciso mergulhar na água salgada, sentir meus pés na areia, a bruma lambendo meu calcanhar, a batata da perna e minhas coxas.
Quando fora d’água, me acabar na água de coco, sorvete, suco, queijo frito. Acabar é modo de falar. Fico atenta à minha forma no quesito alimentação regrada. Longas caminhadas no calçadão ajudam manter a condição física.
Esse hábito de descer ao litoral quando sinto vontade é desde o tempo de namoro. Ele foi quem, numa quinta-feira, me trouxe para cá.
Antes eu vinha somente nas férias em família no mês de janeiro.
Foi tipo travessura. Estávamos trabalhando, e saímos para almoçar. Quando deu na louca de me convidar para irmos para Caraguá em vez de enfrentar o trampo à tarde. Pensei que estivesse brincando. Logo ele tão centrado. Por isso não me opus, achando que fosse brincadeira. Quando passamos Paraibuna, percebi que não era blefe. Descemos. Ficamos pela primeira vez a sós.
Nosso caso acabou, mas o prazer em descer para o litoral permaneceu.
Daquele dia em diante, passei a ver a praia como fonte de repor energias. Trabalhando num escritório de venda de maquinário, no estresse diário de bater metas, eu torço quando um feriado pinta.
Eu mereço.
Gosto do meu corpo. Adoro meus biquínis. Longe de ser presunçosa, mas é tão bom ver que os outros apreciam também.
Recebo olhares dos garotos, dos homens e das mulheres. As mulheres exibindo no rosto uma inveja ora elogiosa ora despeitada. Os garotos buscando o desconhecido. E os homens? Muitos deles, malícia pura.
Nem ligo. Curto os olhares. Curto a brisa batendo em meus cabelos. Desfilar no calçadão, ao contrário de andar nas avenidas em São Paulo, é precioso e relaxante.
Sendo morena, o sol me é um grande parceiro.
Óbvio, me cuido. Nada de insolação, bancar a linguiça assando ou banana à milanesa. A arte de aproveitar a praia é conhecer limites.
À tardinha, visto o shortinho, a sandália, após tomar uma chuveirada, e coloco os brincos. Vou caminhar, quando não caçar uma cachoeira na companhia de uma galera. Acampar faz parte do repertório.
Solitária ou acompanhada eu desbravo áreas novas. Tenho um quê de exploradora.
À noite, quando não acampo em lugar exótico, dou uma volta no shopping ou na orla da cidade. Um show de rock ou pop anima. Bebendo pouco ou nada de álcool, estou inteiraça para aproveitar a praia de manhã cedinho no domingo.
Em termos de custo-benefício, a diversão é barata e serve para recarregar a bateria.
Minha referência é Caraguá, mas sempre dou um pulo em São Sebastião, Ubatuba e adoro passear nos points de Ilha Bela.
Nas curvas, vejo as primeiras imagens de Caraguatatuba. É o mirante. Sobre a mureta à minha direita, o céu e o mar se encontram. Lá embaixo dá para ver as casinhas e o beira mar. A natureza transborda através de árvores, vegetação densa e rasteira, areia e vento.
Do espelho do retrovisor noto o motorista apressado com sua SD10 querendo passagem. Dá vontade de pedir para que passe por cima, visto que o cara nem respeita que estamos numa descida íngreme e que à minha frente segue uma fila de veículos, todos atrás do caminhão. Ainda que o alucinado jogue farol alto em cima de mim, desta vez nada de eu arriscar a levar multa ao ir para o acostamento somente para satisfazer o capricho de ultrapassar do bonito.
Para relaxar, ergo o retrovisor para a luz deixar de me perturbar e repouso minha visão na bela paisagem ao redor, sem me distrair da tarefa de seguir com a máxima cautela o movimento serra abaixo.
Fora esse trecho de serra, a pista está ótima, pouco movimentada, apesar do feriado.
A Páscoa é um dos poucos feriados que a rodovia dos Tamoios não fica insuportável. Eu que o diga. Sou praieira de carteirinha. Curto sair do estresse. Preciso mergulhar na água salgada, sentir meus pés na areia, a bruma lambendo meu calcanhar, a batata da perna e minhas coxas.
Quando fora d’água, me acabar na água de coco, sorvete, suco, queijo frito. Acabar é modo de falar. Fico atenta à minha forma no quesito alimentação regrada. Longas caminhadas no calçadão ajudam manter a condição física.
Esse hábito de descer ao litoral quando sinto vontade é desde o tempo de namoro. Ele foi quem, numa quinta-feira, me trouxe para cá.
Antes eu vinha somente nas férias em família no mês de janeiro.
Foi tipo travessura. Estávamos trabalhando, e saímos para almoçar. Quando deu na louca de me convidar para irmos para Caraguá em vez de enfrentar o trampo à tarde. Pensei que estivesse brincando. Logo ele tão centrado. Por isso não me opus, achando que fosse brincadeira. Quando passamos Paraibuna, percebi que não era blefe. Descemos. Ficamos pela primeira vez a sós.
Nosso caso acabou, mas o prazer em descer para o litoral permaneceu.
Daquele dia em diante, passei a ver a praia como fonte de repor energias. Trabalhando num escritório de venda de maquinário, no estresse diário de bater metas, eu torço quando um feriado pinta.
Eu mereço.
Gosto do meu corpo. Adoro meus biquínis. Longe de ser presunçosa, mas é tão bom ver que os outros apreciam também.
Recebo olhares dos garotos, dos homens e das mulheres. As mulheres exibindo no rosto uma inveja ora elogiosa ora despeitada. Os garotos buscando o desconhecido. E os homens? Muitos deles, malícia pura.
Nem ligo. Curto os olhares. Curto a brisa batendo em meus cabelos. Desfilar no calçadão, ao contrário de andar nas avenidas em São Paulo, é precioso e relaxante.
Sendo morena, o sol me é um grande parceiro.
Óbvio, me cuido. Nada de insolação, bancar a linguiça assando ou banana à milanesa. A arte de aproveitar a praia é conhecer limites.
À tardinha, visto o shortinho, a sandália, após tomar uma chuveirada, e coloco os brincos. Vou caminhar, quando não caçar uma cachoeira na companhia de uma galera. Acampar faz parte do repertório.
Solitária ou acompanhada eu desbravo áreas novas. Tenho um quê de exploradora.
À noite, quando não acampo em lugar exótico, dou uma volta no shopping ou na orla da cidade. Um show de rock ou pop anima. Bebendo pouco ou nada de álcool, estou inteiraça para aproveitar a praia de manhã cedinho no domingo.
Em termos de custo-benefício, a diversão é barata e serve para recarregar a bateria.
Minha referência é Caraguá, mas sempre dou um pulo em São Sebastião, Ubatuba e adoro passear nos points de Ilha Bela.
CERTAS INVENÇÕES humanas são mais um desperdício de tempo, grana e paciência do que um bem útil. O que dizer dos controles remotos do DVD e da televisão? Para que tantos botões se eu só uso cinco: o de ligar, desligar, abrir, carregar e tocar. Da televisão: ligar-desligar, trocar de canais e abaixar-aumentar o volume.
Lembro-me o primeiro contato com o controle remoto. Para não dizerem que eu era bicho do mato, me prontifiquei a ler o manual, seguir item por item, buscando a utilidade de cada um. Aquilo foi me esquentando a cabeça de tal modo que meia hora depois eu joguei o treco para o lado e fui eu mesmo enfiar o dedo no botão da televisão para desligá-la.
Essas coisas tecnológicas devem ter sido projetadas para pessoas como meu neto que desde que completou sete anos de idade recebeu seu videogame. O garoto consumia horas diante daquela máquina, e que destreza tinha nas mãos.
No início, cheguei a ter a impressão de que meu neto adoeceria, por falta de sol ou de atividade física. Até que aos dozes anos passou a dividir o tempo gasto na máquina com brincadeiras ao ar livre com os amigos. Fiquei contente quando vi o moleque correndo atrás de pipa e jogando bola.
Não que todos os adultos sejam como eu. Tenho conhecidos que são verdadeiros amantes de novidades tecnológicas. Quando surgem dificuldades, logo solicitam ajuda de seus netos ou filhos para lhes ensinar os macetes do aparelho recém-chegado.
Apesar de eu ter sido do tempo do onça, como uns bestas lá na repartição me rotulam, eu nada tenho contra a modernidade. Quem visualizou o benefício da chegada do microcomputador ao nosso atendimento no SUS? Eu, com mais de 50 anos, ao passo que jovens recém-saídos das fraldas colocavam empecilhos quanto à utilização.
Tudo bem que uma década atrás me antipatizei com a máquina de escrever elétrica. E teimava sempre em bater meus ofícios na minha velha Olivetti de guerra. Vai ver seja pelo fato de eu ter queimado a primeira que chegou à repartição, por causa da voltagem errada.
Hoje, aposentado, confesso não ter morrido de amores quando do meu primeiro contato com o celular. Achei invasivo, o tijolo que berrava a cada chamada. Era 1995, quando tive contato com a novidade. Eu estava com sessenta e um anos bem-vividos. Sim, tinha direito a torcer o nariz. E o fiz.
Mas no fundo, como diz meu neto balbuciando psicanálise, eu, inconscientemente, teria medo do novo, não queria admitir que aquele treco tivesse igual ou maior poder do que o telefone convencional.
Lembro-me de ter emburrado, fechado a cara para tal intruso. Sou da turma do bem. Eu não iria lutar para sua expulsão da casa, mas me esquivaria de ficar a paparicar.
Dizem que o tempo cura tudo: até a dor de cotovelo.
Certa vez eu estava passando ao lado do banheiro e vi, melhor, ouvi o celular tocar. Pensei que alguém esqueceu o treco lá dentro. De repente, minha neta atende a chamada. Era uma amiga. E... Conversavam.
A situação rotineira para alguns, a mim soou extremamente fantástica. Poder atender a um telefonema no banheiro.
Digo isto porque o que me causa mais incômodo é estar à espera de um telefonema importante. E, sozinho em casa, na exata hora que eu estou no banheiro, pensando na vida, ter que me afobar que nem um louco, me atrapalhar com o papel higiênico e a maldita descarga, enquanto o aparelho não para de tocar lá na sala. E sair correndo porta afora, esbarrando nos móveis, para chegar ao telefone, por vezes com a canela doendo de eventual topada. E tudo para quê? Para o infeliz ficar mudo. Ligação perdida.
“Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh, que droga!”
A engenhoca teria o poder de me livrar deste aperto. Agora, poderia pensar na vida e atender ao chamado, sem o menor constrangimento.
Restou me curvar aos pés do senhor celular. Fizemos as pazes quando percebi sua utilidade, aliás, como acontece com quase toda novidade que surge ao meu redor.
Hoje, em 2001, já faz parte de minha vida. Eu sequer saberia viver sem este grande amigo de bolso.
Lembro-me o primeiro contato com o controle remoto. Para não dizerem que eu era bicho do mato, me prontifiquei a ler o manual, seguir item por item, buscando a utilidade de cada um. Aquilo foi me esquentando a cabeça de tal modo que meia hora depois eu joguei o treco para o lado e fui eu mesmo enfiar o dedo no botão da televisão para desligá-la.
Essas coisas tecnológicas devem ter sido projetadas para pessoas como meu neto que desde que completou sete anos de idade recebeu seu videogame. O garoto consumia horas diante daquela máquina, e que destreza tinha nas mãos.
No início, cheguei a ter a impressão de que meu neto adoeceria, por falta de sol ou de atividade física. Até que aos dozes anos passou a dividir o tempo gasto na máquina com brincadeiras ao ar livre com os amigos. Fiquei contente quando vi o moleque correndo atrás de pipa e jogando bola.
Não que todos os adultos sejam como eu. Tenho conhecidos que são verdadeiros amantes de novidades tecnológicas. Quando surgem dificuldades, logo solicitam ajuda de seus netos ou filhos para lhes ensinar os macetes do aparelho recém-chegado.
Apesar de eu ter sido do tempo do onça, como uns bestas lá na repartição me rotulam, eu nada tenho contra a modernidade. Quem visualizou o benefício da chegada do microcomputador ao nosso atendimento no SUS? Eu, com mais de 50 anos, ao passo que jovens recém-saídos das fraldas colocavam empecilhos quanto à utilização.
Tudo bem que uma década atrás me antipatizei com a máquina de escrever elétrica. E teimava sempre em bater meus ofícios na minha velha Olivetti de guerra. Vai ver seja pelo fato de eu ter queimado a primeira que chegou à repartição, por causa da voltagem errada.
Hoje, aposentado, confesso não ter morrido de amores quando do meu primeiro contato com o celular. Achei invasivo, o tijolo que berrava a cada chamada. Era 1995, quando tive contato com a novidade. Eu estava com sessenta e um anos bem-vividos. Sim, tinha direito a torcer o nariz. E o fiz.
Mas no fundo, como diz meu neto balbuciando psicanálise, eu, inconscientemente, teria medo do novo, não queria admitir que aquele treco tivesse igual ou maior poder do que o telefone convencional.
Lembro-me de ter emburrado, fechado a cara para tal intruso. Sou da turma do bem. Eu não iria lutar para sua expulsão da casa, mas me esquivaria de ficar a paparicar.
Dizem que o tempo cura tudo: até a dor de cotovelo.
Certa vez eu estava passando ao lado do banheiro e vi, melhor, ouvi o celular tocar. Pensei que alguém esqueceu o treco lá dentro. De repente, minha neta atende a chamada. Era uma amiga. E... Conversavam.
A situação rotineira para alguns, a mim soou extremamente fantástica. Poder atender a um telefonema no banheiro.
Digo isto porque o que me causa mais incômodo é estar à espera de um telefonema importante. E, sozinho em casa, na exata hora que eu estou no banheiro, pensando na vida, ter que me afobar que nem um louco, me atrapalhar com o papel higiênico e a maldita descarga, enquanto o aparelho não para de tocar lá na sala. E sair correndo porta afora, esbarrando nos móveis, para chegar ao telefone, por vezes com a canela doendo de eventual topada. E tudo para quê? Para o infeliz ficar mudo. Ligação perdida.
“Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh, que droga!”
A engenhoca teria o poder de me livrar deste aperto. Agora, poderia pensar na vida e atender ao chamado, sem o menor constrangimento.
Restou me curvar aos pés do senhor celular. Fizemos as pazes quando percebi sua utilidade, aliás, como acontece com quase toda novidade que surge ao meu redor.
Hoje, em 2001, já faz parte de minha vida. Eu sequer saberia viver sem este grande amigo de bolso.
SE EU BOCEJO, é culpa do calor. Pode parecer implicância de europeu, mas não é. Para minha defesa, escutei a frase: “o calor está castigando várias vezes nestes três dias em São Paulo.”
Quando eu ouvia de meus orientandos, que eram daqui, comentar sobre o intenso calor que fazia em determinados dias, ainda que prestasse à devida atenção, havia um quê de ceticismo. Passava por minha cabeça que estivessem aumentando a história, para impressionar. Ou uma maneira de dizer que se o francês se incomodava com o frio o brasileiro também sentia o mesmo com o calor.
Agora, nunca mais vou subestimar quem falar sobre o clima brasileiro, nem que exageram com relação aos mosquitos.
Como tudo tem seu lado bom, o clima tropical traduz-se no colorido e leveza das roupas, com as mulheres em seus vestidos, saias, blusa e shorts e os homens – geralmente na hora de lazer ou na condição de estudantes – enfiados em suas bermudas e camisetas.
As praias são bem diferentes do que eu imaginava. Não dá para compará-las nem mesmo com as do sul da França, que são famosas por atrair milhares de banhistas nas férias de verão. E para aqueles que não são fãs, como eu, de andar descalço pelas areias pode arrumar local privilegiado à beira mar, sentado à mesa de um quiosque ou simplesmente passear pelo calçadão, de preferência sob as sombras das palmeiras.
Andar pelos Parques públicos é uma alternativa para as pessoas que estão longe de ter o acesso cotidiano ao litoral. O Parque do Ibirapuera é uma boa dica.
A I Jornada Paulista Sobre Crianças Abandonadas fornece um panorama da realidade brasileira. Recebi o convite de um de meus ex-orientandos e quis retribuir a gentileza de ter tido vários alunos brasileiros nos meus mais de dez anos de livre docente na Sorbonne.
Pesou também a emoção que é visitar a terra dos mitos Florestan Fernandes e Milton Santos, para citar apenas dois professores cuja produção escrita me agradou.
Definitivamente, o calor me amolece.
De repente, ela se levanta. Caminha para frente da plateia. É sua vez de expor.
Ela me toma a atenção de uma forma pouco comum.
Não sou assexuado, mas raramente noto o corpo de uma expositora. Levo muito a sério meu trabalho, e que me lembro, jamais faltei com respeito para com minhas colegas de profissão. Mas ela me abraçou a alma. Talvez a pele morena? Ou o gingado do corpo? Quem sabe a sensualidade despretensiosa em sua fala?
Vai ver é culpa de Jorge Amado.
Há uns seis meses, adentrei na leitura do genial baiano, caprichoso porta-voz da cultura brasileira, a qual é mistura ímpar entre negro, índio, branco e asiático.
Seria a moça que vejo personificação de Gabriela Cravo e Canela?
Esquivo-me do meu tradicional mau-humor foucaultiano, dando um tempo até para o gramscinismo que domina meu pensamento nos dias normais.
A blusa vermelha combina com os delicados sapatos, o penteado, a calça que cai como luva em suas belas curvas. Diante dela eu prefiro ser positivista em vez de negativista.
O Brasil me encanta. Nunca o encarei como turismo sexual. Longe disso. Gosto de sua gente. Simpática, acolhedora.
Estou me sentido mal. Ela se esforçando para apresentar o trabalho científico, que deve ter tomado noites inteiras e, com o incentivo pouco dado no Brasil, dá para imaginar como sofrera para formar-se. E eu aqui olhando suas curvas.
Sinto-me desonesto. Tento desviar o olhar. Centrar-me nas tabelas estatísticas, na explanação acurada. Que nada. Minha visão é arrastada para ela. A situação é incômoda.
Ela é a Iracema tão bem cantada por José de Alencar.
“C’est jolie, la sociologue.” Obrigado Brasil por brindar a humanidade: a beleza de mãos dadas com a aridez sociológica. “La jeune femme, c’est une lune éclatante. Je m’écorche mon coeur.”
A apresentação terminou. Não ousei olhar para suas nádegas. Quero, sim, guardar a imagem vivaz de sua exposição, sentada ou em pé, esbravejando sobre a injustiça social, sem sufocar seu ser feminino.
Quando eu ouvia de meus orientandos, que eram daqui, comentar sobre o intenso calor que fazia em determinados dias, ainda que prestasse à devida atenção, havia um quê de ceticismo. Passava por minha cabeça que estivessem aumentando a história, para impressionar. Ou uma maneira de dizer que se o francês se incomodava com o frio o brasileiro também sentia o mesmo com o calor.
Agora, nunca mais vou subestimar quem falar sobre o clima brasileiro, nem que exageram com relação aos mosquitos.
Como tudo tem seu lado bom, o clima tropical traduz-se no colorido e leveza das roupas, com as mulheres em seus vestidos, saias, blusa e shorts e os homens – geralmente na hora de lazer ou na condição de estudantes – enfiados em suas bermudas e camisetas.
As praias são bem diferentes do que eu imaginava. Não dá para compará-las nem mesmo com as do sul da França, que são famosas por atrair milhares de banhistas nas férias de verão. E para aqueles que não são fãs, como eu, de andar descalço pelas areias pode arrumar local privilegiado à beira mar, sentado à mesa de um quiosque ou simplesmente passear pelo calçadão, de preferência sob as sombras das palmeiras.
Andar pelos Parques públicos é uma alternativa para as pessoas que estão longe de ter o acesso cotidiano ao litoral. O Parque do Ibirapuera é uma boa dica.
A I Jornada Paulista Sobre Crianças Abandonadas fornece um panorama da realidade brasileira. Recebi o convite de um de meus ex-orientandos e quis retribuir a gentileza de ter tido vários alunos brasileiros nos meus mais de dez anos de livre docente na Sorbonne.
Pesou também a emoção que é visitar a terra dos mitos Florestan Fernandes e Milton Santos, para citar apenas dois professores cuja produção escrita me agradou.
Definitivamente, o calor me amolece.
De repente, ela se levanta. Caminha para frente da plateia. É sua vez de expor.
Ela me toma a atenção de uma forma pouco comum.
Não sou assexuado, mas raramente noto o corpo de uma expositora. Levo muito a sério meu trabalho, e que me lembro, jamais faltei com respeito para com minhas colegas de profissão. Mas ela me abraçou a alma. Talvez a pele morena? Ou o gingado do corpo? Quem sabe a sensualidade despretensiosa em sua fala?
Vai ver é culpa de Jorge Amado.
Há uns seis meses, adentrei na leitura do genial baiano, caprichoso porta-voz da cultura brasileira, a qual é mistura ímpar entre negro, índio, branco e asiático.
Seria a moça que vejo personificação de Gabriela Cravo e Canela?
Esquivo-me do meu tradicional mau-humor foucaultiano, dando um tempo até para o gramscinismo que domina meu pensamento nos dias normais.
A blusa vermelha combina com os delicados sapatos, o penteado, a calça que cai como luva em suas belas curvas. Diante dela eu prefiro ser positivista em vez de negativista.
O Brasil me encanta. Nunca o encarei como turismo sexual. Longe disso. Gosto de sua gente. Simpática, acolhedora.
Estou me sentido mal. Ela se esforçando para apresentar o trabalho científico, que deve ter tomado noites inteiras e, com o incentivo pouco dado no Brasil, dá para imaginar como sofrera para formar-se. E eu aqui olhando suas curvas.
Sinto-me desonesto. Tento desviar o olhar. Centrar-me nas tabelas estatísticas, na explanação acurada. Que nada. Minha visão é arrastada para ela. A situação é incômoda.
Ela é a Iracema tão bem cantada por José de Alencar.
“C’est jolie, la sociologue.” Obrigado Brasil por brindar a humanidade: a beleza de mãos dadas com a aridez sociológica. “La jeune femme, c’est une lune éclatante. Je m’écorche mon coeur.”
A apresentação terminou. Não ousei olhar para suas nádegas. Quero, sim, guardar a imagem vivaz de sua exposição, sentada ou em pé, esbravejando sobre a injustiça social, sem sufocar seu ser feminino.
QUE TURBILHÃO de pensamentos a invadia no momento em que deitou na maca que a levaria para o centro cirúrgico. Lá fora, na sala de espera, a família e o marido. Todos ansiosos, todos preocupados, todos solidários.
Em momentos como este é que as pessoas costumam surpreender. Ficou espantada com a tensão que se apoderou do marido. A cada minuto o homem ia checar como ela estava, ver se precisava de alguma ajuda, se estava com fome, sede, desconfortável na posição em cima da cama ou no sofá da sala de estar.
E ela que pensava que ele continuaria com seu estilo indiferente, centrado em si, muitas vezes surdo para as brincadeiras e comentários ao seu redor. Que nada. Era o mais preocupado, excedendo em zelo até a própria mãe dela.
Contudo, nenhuma pessoa estaria tão esquisita quanto ela naquele momento. A carga de sentimentos que a sacudia mesclava-se com os medos tão comuns face à palavra parto e à alegria de trazer um ser ao mundo. E se lhe faltasse oxigênio? E se houvesse um incidente cirúrgico que impedisse a criança nascer de modo saudável?
No caso dela, dois seres, duas meninas.
E se desse algo errado? E se complicações de qualquer natureza pusessem em perigo a vida das pobrezinhas? A cada momento, via-se balançada por novos medos.
Que dor no peito sentia a cada vez que pensava nisso. E se ela viesse a falecer? Os médicos, a equipe, todo mundo diz que não, que é imaginação.
Mas impossível não é, sabe ela muito bem. E se ela estivesse incluída na pequena porcentagem que morre durante ou em decorrência do parto?
Ela força que ele prometesse. O marido teria que cumprir o juramento que fizera ao longo de toda a gravidez: de que cuidaria das crianças se a mãe viesse a faltar.
Ele ria. Às vezes, chorava emocionado, negando a possibilidade. Mas acabava prometendo.
Num momento desses é que invejava as amigas que puseram silicone, que sofreram cirurgia plástica. Teriam a vantagem, pensava ela, de levar numa boa a tensão pré-operatória, por serem experientes.
É a primeira vez que passa por essa tensão. Tudo bem, visitar pela primeira vez o ginecologista não fora nenhum parque de diversão. Porém, nada se compara com o que está sentindo agora.
A maca rola pelo corredor. Que estranho ser carregada.
Ao lado, a enfermeira que puxa prosa: “Como está nossa mamãe?”
Ela esboça um sorriso.
Buscou ficar mais disposta, desencanar da preocupação.
Quando ficou completamente nua, coberta com a camisola branca, tendo que deitar na mesa cirúrgica: “ai, que frio na espinha”, ela se arrepiou.
A mãe sempre dizia que mulher é mais forte que homem. Agora, sabe que a mãe não estava inventando. Se o marido geme com um cortinho no dedo! Imagina tivesse ele que parir?
As horas passavam e ela meio aérea.
Vinham volta e meia imagens de diferentes períodos da gravidez.
O dia que enjoara e tivera que adiar uma reunião importante no trabalho. A vez que o marido correu que nem louco, largando compromissos em outra cidade, tomando chuva, e dormindo no aeroporto, para descobrir, quando chegando a casa, que ela tivera apenas um mal-estar.
Das últimas férias na praia, dos passeios no fim de semana no shopping, do não poder dirigir, da dieta inflexível, do maléfico cigarro deixado de lado, do extremo cuidado que o marido tinha com ela, do fazer amor de ladinho na madrugada.
De repente, uns gritos agudos.
De repente, os choros das deusinhas suas filhas.
De repente, mãe.
Que alegria. Agora é trabalhar para sustentá-las. “É tão bom ser responsável por alguém que depende muito de nós”, sorriu emocionada ao ver a cara das filhas pela primeira vez.
Em momentos como este é que as pessoas costumam surpreender. Ficou espantada com a tensão que se apoderou do marido. A cada minuto o homem ia checar como ela estava, ver se precisava de alguma ajuda, se estava com fome, sede, desconfortável na posição em cima da cama ou no sofá da sala de estar.
E ela que pensava que ele continuaria com seu estilo indiferente, centrado em si, muitas vezes surdo para as brincadeiras e comentários ao seu redor. Que nada. Era o mais preocupado, excedendo em zelo até a própria mãe dela.
Contudo, nenhuma pessoa estaria tão esquisita quanto ela naquele momento. A carga de sentimentos que a sacudia mesclava-se com os medos tão comuns face à palavra parto e à alegria de trazer um ser ao mundo. E se lhe faltasse oxigênio? E se houvesse um incidente cirúrgico que impedisse a criança nascer de modo saudável?
No caso dela, dois seres, duas meninas.
E se desse algo errado? E se complicações de qualquer natureza pusessem em perigo a vida das pobrezinhas? A cada momento, via-se balançada por novos medos.
Que dor no peito sentia a cada vez que pensava nisso. E se ela viesse a falecer? Os médicos, a equipe, todo mundo diz que não, que é imaginação.
Mas impossível não é, sabe ela muito bem. E se ela estivesse incluída na pequena porcentagem que morre durante ou em decorrência do parto?
Ela força que ele prometesse. O marido teria que cumprir o juramento que fizera ao longo de toda a gravidez: de que cuidaria das crianças se a mãe viesse a faltar.
Ele ria. Às vezes, chorava emocionado, negando a possibilidade. Mas acabava prometendo.
Num momento desses é que invejava as amigas que puseram silicone, que sofreram cirurgia plástica. Teriam a vantagem, pensava ela, de levar numa boa a tensão pré-operatória, por serem experientes.
É a primeira vez que passa por essa tensão. Tudo bem, visitar pela primeira vez o ginecologista não fora nenhum parque de diversão. Porém, nada se compara com o que está sentindo agora.
A maca rola pelo corredor. Que estranho ser carregada.
Ao lado, a enfermeira que puxa prosa: “Como está nossa mamãe?”
Ela esboça um sorriso.
Buscou ficar mais disposta, desencanar da preocupação.
Quando ficou completamente nua, coberta com a camisola branca, tendo que deitar na mesa cirúrgica: “ai, que frio na espinha”, ela se arrepiou.
A mãe sempre dizia que mulher é mais forte que homem. Agora, sabe que a mãe não estava inventando. Se o marido geme com um cortinho no dedo! Imagina tivesse ele que parir?
As horas passavam e ela meio aérea.
Vinham volta e meia imagens de diferentes períodos da gravidez.
O dia que enjoara e tivera que adiar uma reunião importante no trabalho. A vez que o marido correu que nem louco, largando compromissos em outra cidade, tomando chuva, e dormindo no aeroporto, para descobrir, quando chegando a casa, que ela tivera apenas um mal-estar.
Das últimas férias na praia, dos passeios no fim de semana no shopping, do não poder dirigir, da dieta inflexível, do maléfico cigarro deixado de lado, do extremo cuidado que o marido tinha com ela, do fazer amor de ladinho na madrugada.
De repente, uns gritos agudos.
De repente, os choros das deusinhas suas filhas.
De repente, mãe.
Que alegria. Agora é trabalhar para sustentá-las. “É tão bom ser responsável por alguém que depende muito de nós”, sorriu emocionada ao ver a cara das filhas pela primeira vez.
FÉRIAS É sempre bom. Já vale por não ter que se levantar cedo. Segundo, por fugir da rotina de ser despertado no susto pelo relógio ou, por medo de voltar a dormir após ter acordado às 4h da manhã, ficar evitando de fechar os olhos. Apreciar o café da manhã e almoço com a família seria o prazer a mais.
No caso dele, que exercia cargo de confiança, também ajudava ter o direito de desligar-se do trabalho. Na maioria das vezes – quando a situação financeira permitia – optava por visitar uma cidade distante como maneira de ficar longe do alcance das emergências que pudessem requerer sua presença.
Mas se o bolso restringisse a distância, se tivesse a sorte de estar à beira-mar, já se daria por satisfeito. Para isso que depois da casa quitada, tanto sacrifício eu fiz para conseguir juntar o dinheiro suficiente para financiar o apartamento sem a ajuda da Caixa Econômica Federal, visto se tratar do segundo imóvel no nome.
Na orla, é só aproveitar. A diversão sai bem mais barata. Pode-se achar uma prainha pouco movimentada, ou descobrir cachoeira enquanto se caminha ao lado de vegetação silvestre.
Minha cabeça está mais tranquila. Como saí de férias, tenho certeza de que cada dia será meu e sem surpresas.
Diferente do feriado, que a qualquer problema que desse na unidade tinha eu que correr para tentar solucionar. Faz parte das atribuições um bocado de assinaturas, requisições e pareceres sem os quais a unidade não anda quando a situação piora.
Quem mandou querer ser diretor?
Saí do prédio e fui buscar mistura para acompanhar o arroz e a salada preparados por minha mulher.
Que bom o ar do litoral. A agitação é legal.
À porta do restaurante, minhas pernas bambearam.
Um jovem trajando calção longo, camiseta regata e boné, me aborda.
“Olá diretor”, disse o jovem.
Percebi que se tratava de um ex-presidiário, no máximo, aos 24 anos de idade. Eu cumprimentei, da maneira mais natural possível, como sempre faço quando estou a serviço. Perguntou-me se eu estava passando as férias, e um estranho riso me deixou perplexo.
Procurei camuflar o incômodo da situação.
Era a primeira vez que eu me deparava com um ex-detento, assim, na rua, trocando ideia. Ele cercado de seus amigos.
Fiquei aliviado quando ele disse para seus camaradas que eu era sangue bom. Foi como um sinal para eu seguir meu caminho, que não queriam nada comigo.
O incidente me desconcertou.
Se me queimassem a tiros nada seria de estranhar. Nada de atípico. Nós diretores de presídio somos como inimigo público número 3, perdemos somente para o juiz que o condenou e a vítima que o denunciou.
Há, de certo, colegas de profissão, que têm o dom para passar para o primeiro lugar na lista de desafetos de um presidiário. Incorporam uma atitude de verdadeiro tirano. A causa? Pouca habilidade em lidar com a própria ansiedade ou ser inadequado para o cargo que ocupa.
O diretor violento, bruto, esquece que a ‘cadeia não é eterna’, expressão bastante em voga na boca de detentos quando querem intimidar-nos.
Eu faço meu melhor. Sou enérgico, mas mostrando ao detento que sigo a lei e não um capricho. Cumpro o que a instituição me exige, e jamais deixo me levar por achaques, atitudes grosseiras a quem quer que seja.
Respeito um detento como respeito a mim mesmo. A justiça já o puniu: privando-o da liberdade. Cabe a mim contribuir com cumprimento decente da pena.
Ser justo, ético, carismático, não significa ser trouxa nem conivente com o erro.
No meu presídio não tem preso desfilando com celular, fazendo o corre, ameaçando vítimas dentro ou fora da prisão, ou continuando com a vida criminosa debaixo de meu nariz.
E se quiserem acertar as contas por isso que o façam, eu é que não abro mão do estilo.
No caso dele, que exercia cargo de confiança, também ajudava ter o direito de desligar-se do trabalho. Na maioria das vezes – quando a situação financeira permitia – optava por visitar uma cidade distante como maneira de ficar longe do alcance das emergências que pudessem requerer sua presença.
Mas se o bolso restringisse a distância, se tivesse a sorte de estar à beira-mar, já se daria por satisfeito. Para isso que depois da casa quitada, tanto sacrifício eu fiz para conseguir juntar o dinheiro suficiente para financiar o apartamento sem a ajuda da Caixa Econômica Federal, visto se tratar do segundo imóvel no nome.
Na orla, é só aproveitar. A diversão sai bem mais barata. Pode-se achar uma prainha pouco movimentada, ou descobrir cachoeira enquanto se caminha ao lado de vegetação silvestre.
Minha cabeça está mais tranquila. Como saí de férias, tenho certeza de que cada dia será meu e sem surpresas.
Diferente do feriado, que a qualquer problema que desse na unidade tinha eu que correr para tentar solucionar. Faz parte das atribuições um bocado de assinaturas, requisições e pareceres sem os quais a unidade não anda quando a situação piora.
Quem mandou querer ser diretor?
Saí do prédio e fui buscar mistura para acompanhar o arroz e a salada preparados por minha mulher.
Que bom o ar do litoral. A agitação é legal.
À porta do restaurante, minhas pernas bambearam.
Um jovem trajando calção longo, camiseta regata e boné, me aborda.
“Olá diretor”, disse o jovem.
Percebi que se tratava de um ex-presidiário, no máximo, aos 24 anos de idade. Eu cumprimentei, da maneira mais natural possível, como sempre faço quando estou a serviço. Perguntou-me se eu estava passando as férias, e um estranho riso me deixou perplexo.
Procurei camuflar o incômodo da situação.
Era a primeira vez que eu me deparava com um ex-detento, assim, na rua, trocando ideia. Ele cercado de seus amigos.
Fiquei aliviado quando ele disse para seus camaradas que eu era sangue bom. Foi como um sinal para eu seguir meu caminho, que não queriam nada comigo.
O incidente me desconcertou.
Se me queimassem a tiros nada seria de estranhar. Nada de atípico. Nós diretores de presídio somos como inimigo público número 3, perdemos somente para o juiz que o condenou e a vítima que o denunciou.
Há, de certo, colegas de profissão, que têm o dom para passar para o primeiro lugar na lista de desafetos de um presidiário. Incorporam uma atitude de verdadeiro tirano. A causa? Pouca habilidade em lidar com a própria ansiedade ou ser inadequado para o cargo que ocupa.
O diretor violento, bruto, esquece que a ‘cadeia não é eterna’, expressão bastante em voga na boca de detentos quando querem intimidar-nos.
Eu faço meu melhor. Sou enérgico, mas mostrando ao detento que sigo a lei e não um capricho. Cumpro o que a instituição me exige, e jamais deixo me levar por achaques, atitudes grosseiras a quem quer que seja.
Respeito um detento como respeito a mim mesmo. A justiça já o puniu: privando-o da liberdade. Cabe a mim contribuir com cumprimento decente da pena.
Ser justo, ético, carismático, não significa ser trouxa nem conivente com o erro.
No meu presídio não tem preso desfilando com celular, fazendo o corre, ameaçando vítimas dentro ou fora da prisão, ou continuando com a vida criminosa debaixo de meu nariz.
E se quiserem acertar as contas por isso que o façam, eu é que não abro mão do estilo.