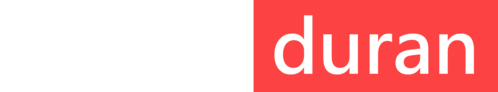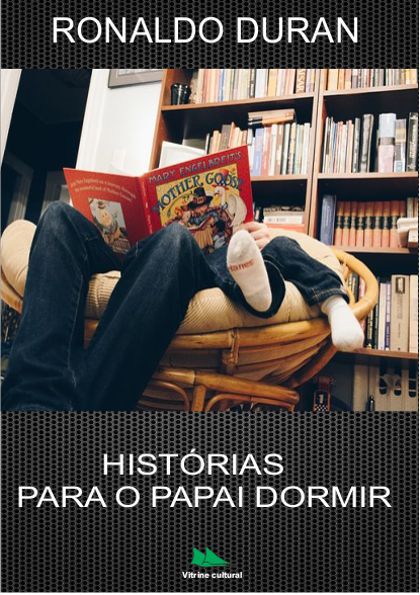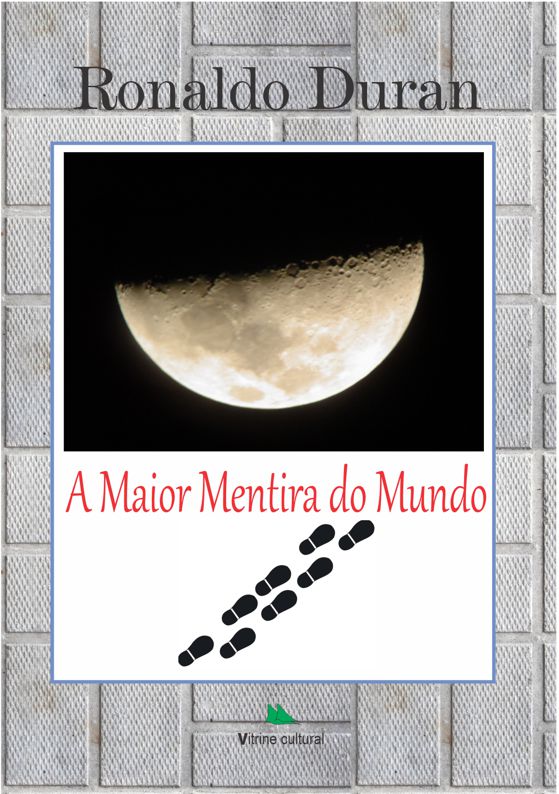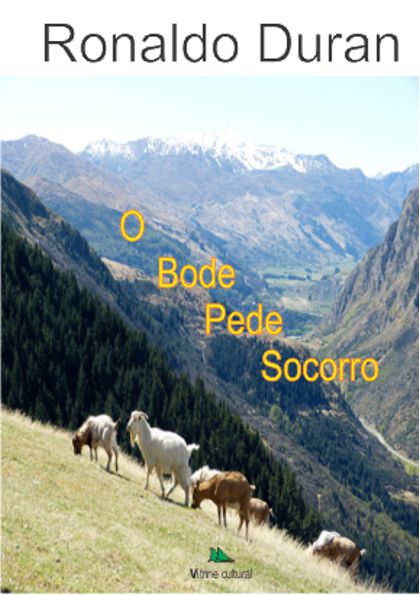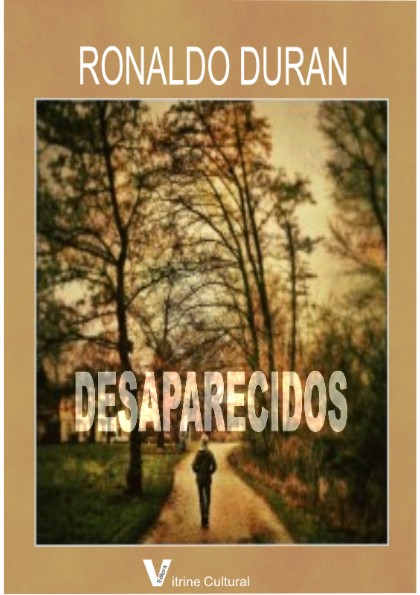
DESAPARECIDOS
O primeiro conto traz a história do garoto que foge de casa depois de tanto pensar que era um fardo insuportável para a sua mãe. O sentimento como esse é partilhado pela pessoa que deixa seu lar por causa do clima de tensão gerado por frases e expressões agressivas que a acusam de ser culpada pelo sofrimento do outro. Se houvesse mais diálogo e menos acusação a pessoa permaneceria em casa e não somaria aos diversos desaparecidos anunciados pelos meios de comunicação quase diariamente. Sorte que a situação aqui se resolve quando o garoto opta por refugiar-se na casa da professora em vez de se evadir para lugar que o pusesse em perigo ou que impedisse sua mãe de lhe dizer o quanto ela realmente o amava. Com essa história mais outras cinquenta, Ronaldo Duran traz o livro Desaparecidos repleto de contos mais maduros, porém, não menos fascinantes, e que pode ser lido de uma vez ou sorvido a cada dia como livro de cabeceira da cama. Apresenta 55 histórias, boa parte tendo como cenário pontos da cidade de São Paulo.
Compre Agora
Contos
Sufoco enfiar tudo na mochila que mal dava para o material escolar. Pelo menos duas mudas de roupas ele tinha que levar.
Na ponta dos pés, passou pela cama da mãe. Queria desistir da fuga. Deixar aquela bobeira de lado. Tinha medo. Mas que fazer? Ficar ouvindo a mãe a reclamar do seu mau comportamento, que queria um filho assim ou assado. Por vezes dizia mesmo que queria não ter tido filho. Poderia estar solta no mundo, vivendo, sendo feliz, sem fardo para carregar.
Sem contar as ameaças do colégio interno. “Se você não tomar jeito, vou te pôr no colégio interno e nunca apareço. Você só vai sair de lá com dezoito anos. Esse é o destino da criança que não respeita pai nem mãe”, palavras vociferadas pela mãe quando uma ou outra travessura de menino a tirava do sério. A situação de pobreza também contribuía para abalar os nervos maternos. A necessidade de sustentar, sozinha, três bocas, geradas de relacionamentos passados, favorecia a ira desmedida.
A pouca ajuda que achava para continuar criando três homens extenuava tanto esta mulher que, em muitos momentos, queria sumir e abandonar as crias. Porém, por mais que falasse, nunca os abandonaria. Era a razão de sua vida. E por mais descabeçada que fosse e continuasse a ser, tinha como missão zelar pelos filhos, a seu modo.
Pena que as iradas frases há anos perturbavam a criança. Por ser o mais velho, era alvo das cobranças mais severas da mãe. “Você, o mais velho, bem podia me ajudar a cuidar de seu irmão”. E esse filho, que para muitos pais mais parecia com uma menina – pois naquela década era pouco normal ver garoto varrer a casa, lavar a louça, ajudando a mãe nos afazeres domésticos – por mais que fizesse nunca estaria à altura de satisfazer a exigente mãe no zelo da casa.
Na entrada da adolescência, dizem os estudiosos, é que se operam mudanças por vezes radicais. O menino, encolhido no seu canto, vendo a mãe a xingar, a reclamar da vida, das compras, das contas, do destino injusto. A alma tímida, educada pela avó, rebelou-se. Queria, instintivamente, o fim da humilhação.
Alma frágil precisa de um porto seguro; do contrário, se suicida ou se mantém acorrentada à prisão anterior. O pivete visualizou na professora de reforço escolar – que a mãe pagava para livrar o filho do fantasma da repetência na escola – uma pessoa caridosa, destituída de interesses. Ingênua criança. Apegou-se à senhora. Também pudera, se um homem barbado, cético de tudo, calejado pelas amarguras e desilusões, diante dessa senhora acharia motivo para dizer que a humanidade ainda não está de todo podre, imagina que boa impressão não causaria nessa criança.
Era a mãe que ele queria ter.
Fácil adivinhar que paradeiro o fugitivo teria. Na verdade, o rapazinho até pensou fugir do bairro, ir para outro lugar a esmo, bem distante. Pegaria o ônibus, desceria em algum ponto final, e sabe-se lá. Uma força, porém, fez o rapazinho ir ao encontro da senhora. À porta da casa da professora, chegou mesmo a surpreendê-la com a cara de quem acaba de se levantar.
Ele pediu para morar com ela. “Faça o seguinte. Vá para escola. Depois a gente resolve isso”, a senhora procurou acalmar o irrequieto garoto, persuadindo-o a ir para a escola regular. Ele obedeceu.
Na hora do recreio, a diretora pede que trouxessem o garoto para sua presença.
Lá estava a mulher debulhada em lágrimas, soluçando, desespero na cara. Era sua mãe. Abraçaram-se. Ele chorou também. Mas as lágrimas dele traziam uma alegria, misturada a dor e a vergonha. Soube que era amado por sua mãe.
Felizmente o caso não engrossara o caldo da estatística dos desaparecidos daquele ano.
Com a senha na mão, a máscara no rosto e o corpo cansado da espera, a moça de trinta e poucos anos foi acometida pelo surto de riso. Pessoas aos encontrões para lá e para cá. Via-se nela o sinal de desespero de quem perde a orientação, de ausência da energia que nos conduz de casa para o trabalho e do trabalho para casa, de extinção momentânea da força que nos faz enfrentar as privações e temer perigos e buscar o prazer.
O incontrolável acesso de riso da moça incomodava uns chorosos considerando blasfêmia alguém rir quando as pessoas estavam entristecidas pela perda da filha, da mãe ou do pai soterrados. Quanto mais com os corpos amontoados num Galpão em Teresópolis, por falta de espaço no IML da cidade. Outras tantas pessoas, padecendo a dor da perda, mal tinham tempo para notar fosse o sofrimento fosse o riso de quem quer que seja.
Os bombeiros, enlameados, que transitavam por ali, rumo aos locais críticos, pouco se importavam com o riso da moça. Antes, servia de impulso para eles abraçarem a tarefa de tentar socorrer outras tantas vidas, ou pelo menos trazer tantos outros corpos dos escombros a fim de dar aos parentes sobreviventes a possibilidade de conforto. Pois, saber-se do paradeiro do familiar, ainda que morto, é melhor que a insensível incógnita.
Os profissionais da saúde, sinônimo de empenho. Polícia, bombeiros, todos fazendo seu melhor. Voluntários de serviços essenciais ali a socorrer os mais necessitados.
Dezenas e dezenas de pessoas com fotos exibindo o riso clicado durante um churrasco, ou uma festa de aniversário de criança ou da vovó comemorando 80 anos, ou uma colação de grau do garoto concluindo o colégio, ou uma viagem de camping onde a menina flertando com um rapaz. Cada foto segura por mãos trêmulas, fatigadas, desesperadas, desconsoladas, quase resignadas. Máscaras enfiadas nos narizes a proteger contra o acre cheiro de defuntos em estado deplorável.
De repente, o riso dela sumiu tão rápido quanto surgiu. Em meio à espera exaustiva, as pernas bambeando, e a teimosia evitando que se sentasse ou que saísse defronte do Galpão. Na cabeça, as imagens do marido, sorridente, brincalhão. Tinha vezes que o pau comia entre eles. Sempre quando ele vinha com a conversa mole de que tinha feito horas extras, mas o malandro estava no bar tomando umas com os amigos. Nada de traição. Ela é que não gostava nem da mentira nem do bafo da cerveja.
Ela o amava muito. Na perda, ela pôde notar o quanto ele era a sua alma gêmea.
E a avó? Praticamente a criou. A mãe, muito nova, tendo que ganhar o pão dos filhos, passava o dia inteiro fora de casa. Alguém tinha que ficar com as crianças. A moça podia ver a avó agarrada à máquina de costura. Todo dinheiro ganho, que não era muito, servia para completar a renda familiar. A moça sacudiu a cabeça, como para fazer desaparecer as imagens do marido e da avó, mortos pela tragédia causada pelas chuvas.
Deu espaço para a passagem de mais um caminhão frigorífico que se dirigia ao galpão.
O acesso de riso anterior se explicava. Tanto o marido como a avó aparecem sorrindo nas fotos que a moça segura entre os dedos. O sorriso da foto, mostrando a arcada dentária, poderia ajudar na identificação dos parentes, se necessário fosse. Além disso, as fotos traziam um sorriso genuíno, de um momento divertido.
O riso histérico de momentos antes da moça talvez tenha sido uma tentativa de ressuscitar a alegria ali impressa para minorar a opressão que a atmosfera de dor e de desalento provocava nela naquele instante. Ela, diarista guerreira, igualmente buscará se erguer, tocando a vida, ainda que à sombra da perda. Ao lado de milhares de pessoas, a vontade de viver da moça servirá para reconstruir a cidade.
A atenção da moça durou frações de segundos, motivada pela novidade. Nunca tinha visto o rapaz.
O rapaz tinha os olhos enfiados na revista Exame, edição em inglês. A revista que tinha às mãos era mais para exercitar a eterna necessidade de domínio da língua de Shakespeare.
Se os olhos passeavam pelas letras, entretanto, jamais perdiam de vista a movimentação para ver se o ônibus que parava era o seu. E nem se mantinha indiferente às pessoas que circulavam, ainda que o ar compenetrado pudesse simular o oposto.
Quando ela virou a esquina, se encaminhando para o ponto, o rapaz notou. Notaria qualquer outra, e se tivesse perfil agradável demoraria a olhar. A moça vinha da mesma direção que o coletivo esperado. Assim qualquer babão poderia degustar a visão passando-se como atento ao ônibus que demorava. Ele não fez diferente. Fixava-se, ainda que rapidamente, em todas as curvas que caíssem em seu agrado.
O que ele não gostou foi da incômoda insistência, que o escravizou, em buscá-la com o olhar. No geral, dava uma olhadela, desejava um pouco, e depois se desligava, indo esquadrinhar outras formas ou centrar-se na leitura. Mas a moça o petrificou. Que ruim ter que perder a noção. Temia tornar-se inconveniente.
A moça dentro do uniforme que tão bem delineava as curvas. Dentro daquela calça preta de tecido fino, as nádegas prendiam o olhar do rapaz. A camisa de pano igualmente fino, cor cinza, realçando os braços, bustos. No rosto, um traço singular. A braveza parecia fazer morada, mas até isso deixava a moça mais atraente.
O ônibus vinha lotado. Ela entrou. Ele seguiu atrás. “Posso fechar?” perguntou a motorista. O rapaz, ainda receoso, foi seguindo o ritmo. A situação autorizava o encosto. E cada vez mais próximo, embrenhado no perfume dela. A aproximação foi tanta que a consciência passou a brigar com a libido. As formas da moça a estimulá-lo. Seus corpos exprimidos. Evitou com todo empenho que a excitação pudesse comprometê-lo diante da vendedora e de todos.
A moça sentia o calor do rapaz. Os braços fortes às suas costas. O sentido dizendo que ele a queria. Quando a grande mão roçou ‘sem querer pelo traseiro’ ela não o xingou, soube que ele procurava controlar seus instintos ao mesmo tempo que respeitá-la. Como fizera outras vezes, se percebesse má intenção do cara, teria lhe dado um golpe nas partes.
Passado algum tempo, o ônibus esvaziava. Ela de pé. Ele logo achou um banco vazio e se sentou. O impulso o fez tocar nela para oferecer o assento. “Que cê tá fazendo?”, se recriminou. Podia soar cavalheiro dar o assento para uma mulher? Tudo bem se fosse uma idosa ou uma mulher com filhos, não uma moça tão saudável.
Pior, e se a moça o xinga. Que vergonha. Vai que ela é casada ou tem namorado. Olha aí a confusão armada.
Dias depois, ele no ponto e ela chegando. A fisionomia da moça calando a consciência e despertando a libido do rapaz. Nos degraus do coletivo apinhado, juntos novamente. O calor irradiando dele, diante do cheiro de cabelo molhado e perfumado da moça.
Hoje, ele se portou melhor. A consciência venceu. Inclusive ela respondeu sorridente aos comentários dele sobre o aperto no coletivo, que a prefeitura podia dar condição decente para o trabalhador... Tudo para cavar assunto. Pena que o gás só durou até passarem a roleta. Depois a indiferença reinou, da parte dela. Para ele, restou a resignação entre hesitar em se aproximar ou permanecer admirando.
No carro, além do motorista, um passageiro. Proseavam. Nada impedia que fossem confundidos como pai e filho. Um tinha trinta e poucos anos. O mais novo não alcançava 13.
O veículo teve o motor desligado. Reinava a calmaria. Do lado de fora, mosquitos voam ao redor dos faróis baixos. Em seguida, as ações do homem e do garoto mostram uma situação estranha, imprópria aos bons costumes. Embora o adolescente possa ter alguma culpa, a responsabilidade deve recair inteiramente no mais velho, pelo motivo que a idade adulta é por natureza considerada condutora.
O menino se prostituía. O homem aproveitava.
Infelizmente, não fora uma ou duas vezes que tal cena se sucedera. Saído de uma família pobre, de uma família que inclusive negligencia seu paradeiro, o menino vive como se adulto fosse. Embora a mãe pudesse alegar que pensava que o menino estivesse na casa deste ou daquele amigo das vezes que sumia por horas, deveria achar estranho achá-lo com dinheiro ou produtos que não fora por ela comprados. Mas a miséria por vezes prefere ser surda e muda, mesmo que tal indiferença possa fazer mal. A mãe ignorava que o filho vendia o corpo.
Embora fosse um local ermo para quem está acostumado ao asfalto e à invasão de privacidade tão comum na cidade, a área rural ali tem seus moradores. Numa dessas vezes, um morador, que caminhava para sua casa, pôde surpreender a cena incomum. Esse mesmo morador, que era caseiro de uma chácara, narrou a situação para a patroa, que nada mais era que uma assistente social. “Caso o senhor presencie novamente, por favor, anote a placa.”
A cada quinzena, o carro estava lá. Numa dessas, o roceiro pegou a placa. Eis por que agora, a cinquenta metros do veículo, há um carro da polícia com faróis apagados, camuflado no matagal. Enquanto no veículo o homem tira a camisa do menino, dois policiais vêm como gatos, silenciosos, se esquivando do possível espelho retrovisor.
_ “Mãos na cabeça... saia do carro”, um dos guardas dá a voz de prisão ao se aproximar da porta do Gol.
O motorista, sem sentido, nem pode erguer a calça ou abotoar a camisa. Tropeçou mesmo na saída, e iria ao chão se o policial não o sustivesse.
_ “Se vista”, ordenou a autoridade.
Rapidamente, ergueu a calça jeans e fechou o zíper...
Na delegacia, o homem teve a identidade revelada. Era professor.
Há vícios que, quando descobertos, produzem tamanho desarranjo, que o sujeito pensaria mil vezes antes de praticá-los caso pudesse antever o que aconteceria se pego. Contudo, raramente o criminoso crê que será apreendido.
Preso e com a identidade escancarada. Na escola, todos os professores ficaram boquiabertos. Se ele não era um doce de simpatia, nada em seu comportamento denunciava tal perversão; antes, era disciplinador, e os alunos em geral na aula dele tinham medo, respeito e bom aproveitamento escolar.
_ “O que leva um cara a procurar meninos?”, uma professora se pergunta.
_ “Tão bonito. Podia ter a mulher que quisesse”, outra suspira resignada.
_ “É doença, e pronto. Lamentar nada adianta. O que conta é que ele procure tratamento”, disse o mestre de biologia.
O rapaz voltaria para sua cidade de origem. O escândalo o perseguiria, mas a intensidade seria maior se tivesse permanecido na cidade do flagrante. O propósito era tratar-se e buscar retomar a vida.
O menino recebeu assistência social, passando meses no abrigo. A mãe fora advertida, e chamada à presença do juiz da vara da infância. Menos de um ano depois, porém, voltou o garoto a comercializar o corpo.
O aprendizado de lidar com as espinhas é presente do segundo casamento. A esposa, diante do rosto maltratado, instruíra-o a jamais estourar espinha, principalmente as recentes; e a substituir o sabonete por creme de barbear e loção quando barbear-se.
O rosto de agora é mais saudável do que na juventude. Aos vinte e cinco anos, mostrava-se quase deformado.
O estranho é que à medida que deixou de se preocupar com suas espinhas, a energia voltou-se contra as alheias. Destaque para as das mulheres. Já se foi o tempo que ele ria ao ver uma jovem horrorizar-se na presença de espinhas, achando o assunto mera futilidade.
Hoje, ele é que se horroriza ao ver uma mulher com espinha no rosto. Dependendo do estado da espinha, ele fica tonto, a ponto de desviar o olhar, querendo fugir de sua presença. Como se explica a repulsa recém-chegada se antes ele era indiferente ou considerava fricotes femininos o incômodo que as espinhas geram?
Com o tempo, sem saber a razão, esse item passou a servir de critério para ele classificar uma mulher como atrativa. Sem espinhas, lisinha, seria atraente. Com espinha, motivo de esquiva.
Tendo ele, sabe lá por qual carga d’águas, fixado o pensamento nesse traço tão corriqueiro, acabou por tornar o assunto extremamente incômodo. Numa reunião de negócios, diante da dona da agência de publicidade, ele fazendo o maior esforço para se mostrar indiferente ao enxame de espinha que a moça tinha no rosto. No caso aqui, a moça estava até passando por um rigoroso tratamento dermatológico. Mas para ele que desconforto ter que se aproximar, olhá-la.
Em situação mais recente, tem-se a sócia proprietária da loja de material de construção. Havia um mês que começaram ter contato. Ela comprara a parte do sócio anterior. Quando a viu pela primeira vez, o empresário gostou do jeito despojado. Era atraente à distância. Embora não fosse um chavequeiro, ele aprecia ficar perto de quem lhe atiça os instintos. Viu, portanto, que a chegada da moça poderia valer a pena não exclusivamente no aspecto comercial.
A proximidade entre eles seria inevitável, ainda que a loja fosse gigantesca e o sujeito atuasse com independência. Poderiam sequer viver sem maior intimidade, sem que com isso o trabalho fosse comprometido ou ela se sentisse ofendida.
O instinto o impulsionou a uma aproximação. Ela sorridente, simpática, receptiva. Assunto não faltou para tornar a primeira conversa empolgante, e fornecer uma deixa para futuras. Tudo ia bem.
Foi quando ele percebeu no peito dela, exatamente acima dos seios, na região exposta aos olhos masculinos graças às graciosas camisetas cavadas, que havia três ou quatro grandes caroços avermelhados. A visão o perturbou profundamente. Tinha a avermelhada região aspecto horrível de doença, que requeria cuidado. Mas a moça, quase indiferente, semelhante a um moleque, exprimia as espinhas, parecendo negligenciar cuidados requeridos pela pele.
Após este episódio, ele procurou evitar contato. Todavia, seja porque as manchas por vezes retrocediam ou porque havia dias em que a moça usava vestimenta que cobrisse a região, ocorria de ela voltar a ser atrativa aos olhos do empresário. De repente, estavam proseando.
Das vezes que ele interrompia a conversa mais cedo, de modo quase abrupto, estava ela trajando camiseta cavada e a coçar a vermelhidão peitoral.
O sol de maio incidindo na sala. No computador, ele sentado e ela de pé ao seu lado. Ele a orientava na diagramação de um texto, quando a tensão tomou conta. A roupa dela estaria tirando o fôlego. Que esquisito. Embora ela fosse agradável aos olhos, ele nunca havia perdido a compostura. Era do tipo introvertido para estes assuntos. Quem sabe o vazio da sala o estimulou, tipo: ‘a ocasião faz o ladrão’.
Ela é o inverso. Abraça, beija. Está no seu natural entregar-se de corpo e alma aos amigos ou àqueles que lhe agradam. Mesmo em relação aos desafetos, por ocupar função tipo relações públicas, costuma sorrir quando gostaria de matar.
Apesar de 43 anos, quem a vê pela primeira vez é capaz de dar dez anos menos. Um pouco pela estatura abaixo da mediana, por cultuar a saúde e não ser dada a exageros. Certa vez, ele a viu num vídeo quando ela tinha trinta anos. Parecia ter 18 anos, tanto era sua formosura.
Graças à crença em alma gêmea, casou-se aos 25 anos. Após 15 anos de matrimônio, cada qual seguiu seu caminho. Maior dor do que assumir o rótulo de separada somente a da ausência de filhos. Durante anos, nutriu o sonho de que chegaria o momento mais oportuno para engravidar e entregar-se à maternidade. Antes precisava melhorar posição na empresa, casa mais espaçosa, consolidar a carreira de jornalista. A gravidez sempre adiada na ilusão de que chegaria o momento ideal...
Hoje, ainda nutre sonhos de encontrar um rapagão, vinte ou trinta anos, que a pegue e que queira somar junto, formar família. Por isso que seu espírito insiste em estar pareado com as mais jovens.
Quer sorver a moda jovem, o papo jovem, as ideias jovens, as baladas. Acredita na chance de recomeçar.
As vestimentas coquetes agradam preferencialmente aos homens da repartição. As mulheres dividem-se em elogiar as belas formas realçadas ou a criticar o exibicionismo. A jovem senhora sabe que abusar do decote pode pôr a perder as pretensões de ascensão na empresa. É preciso ter tato.
Um dos funcionários ausentes hoje, jovem, 22 anos, moreno, alto, estudante universitário, é que bole com os instintos. Diante dele, ela se perde.
“Aquele ali, sim, faz meu tipo,” diz ela para quem quiser ouvir.
O rapaz se sente lisonjeado. Ainda que a abrace, ainda que a acaricie, ainda que a visite em seu apartamento, a verdade é que está longe de considerar uma relação mais séria.
Hoje, estão os dois novamente sozinhos, pela segunda vez. Se fosse o rapaz de 22 anos que dardejasse olhos sedentos, ela logo se aproximaria. Mas sendo ele um quarentão e com cara de respeitável, a coisa muda de figura. Nem ele sabe por que, quando sozinho perto dela, sente-se expansivo, com a impressão de tudo poder dizer e fazer.
Nos dias corriqueiros, quando todos estão ao redor, o encanto que ela agora emana desaparece talvez por causa da pressa que os relatórios exigem, por causa da necessidade quase insana de ela fazer-se reconhecida pelos superiores imediatos pisando em cima dele. Mas quando estão sozinhos, e ela não precisa se armar, ele consegue apreciar suas curvas com mais calma. Por isso ele se descontrola.
Ela sente-se lisonjeada pelo desejo indisfarçável dele. Vai ver seja por isso que ela dá corda. Sem censura, sem plateia, ela se permite desejada por um cara a quem ela sabe que nunca dará nada além da migalha de um flerte unilateral, mas que na contabilidade do ego conta muito.
Para servir a mestres e alunos, que passam as férias no campus, acrescenta-se o contingente de funcionários. É preciso secretários, pessoal de apoio operacional.
Todavia, nada se compara ao retorno das aulas. Se antes uma sala de aula, ou de departamento, era ocupada por um único professor diante de três ou quatro assistentes de pesquisa, quando as aulas são retomadas, a muvuca toma conta inclusive dos corredores.
A volta às aulas proporciona, a cada ano, o choque do novo com o estabelecido. Calouros, verdadeira manada de cérebros pouco corrompidos e sedentos de conhecimento, que adentram a porteira da universidade. Meninas, ex colegiais, umas mais atiradas, outras mais recatadas. Meninos, crianças crescidas. Todos visualizando um futuro promissor ou uma rotina mais livre, longe da família.
De um lado, calouros a absorver a novidade. De outro, os veteranos fingindo indiferença ou realmente entediados da rotina vivida há um ou mais anos. Uns apreciando os calouros com o olhar que deixaria o Marquês de Sade enrubescido. Ávidos veteranos buscando amedrontar receosos calouros com gritos, com cortes de cabelo, com linguagem chula. Mesmo na pele de bom samaritano, uns procurando acolher lascivamente os novatos. É a micro sociedade, e suas imperfeições. Por isso a prefeitura do campus e o diretório acadêmico devem ficar vigilantes para evitar abusos de parte dos veteranos que de outro modo não teriam limites.
Todos estão prontos para enfrentar, seja o primeiro, seja o último ano do curso da poli da USP, certo?
Infelizmente há desistentes. No caso aqui, um rapaz, de barba grande, vindo de uma família cujo perfil é típico dos alunos da Poli. A alegria que dera a sua família quando, há quatro anos, soube da aprovação no concorrido vestibular da USP, é agora transformada em decepção, ainda que disfarçada, diante da desistência do último ano da Poli.
O motivo da desistência? A paixão pelo rock.
Meteu-se numa banda e nela se afundou. Nada diferente da rotina de muitas bandas famosas, cujos integrantes desistiram da carreira universitária. Pena que para ele e para a banda o sucesso não veio.
A bebida, além da inspiração que dava aos acordes e composição, gerou vida desregrada a partir do segundo ano de curso, contribuindo para as ‘deps’. A cada semestre, via a obrigação de estudar mais e mais se caso quisesse ter bons resultados no mundo acadêmico, ao mesmo tempo em que mais e mais murchava o interesse para ficar em cima dos livros.
O fascínio do rock vendava-o. Acabou por entregar-se ao relaxo.
Já depois de ter terminado o primeiro ano de curso, a transformação era visível. Aquele aluno, que era aplicado no colegial, gostou das bebidas e da conversa fiada nos barzinhos. Preferiu ficar na cantina por mais tempo que o intervalo de aulas permitia. A ressaca das baladas o impedia, caso fosse para sala de aula, de dar a mínima atenção ao conteúdo que o professor doutor transmitia em cima do tablado.
Aflorou nele o instinto da liberdade e quis dar um basta a todos os anos que fora obrigado a perder tempo dentro da escola. A banda de rock foi essa porta.
De volta à sua cidade natal, vive para fazer shows noturnos com sua banda. Dinheiro nenhum. Está mergulhado numa rotina: dormir às sete da manhã, logo que chega das baladas.
Diante do futuro incerto, uma frase atravessa seus lábios: “hoje seria o primeiro dia de aula...”.
“Sua irmã chega por volta do meio dia. Almoça, e corre novamente para o supermercado,” disse a mãe.
“Tudo bem, mãe, eu disse que deixo a comida pronta,” responde a filha.
O pedido da mãe era que a filha mais velha aprontasse o almoço da caçula, assim a mãe teria mais tempo para circular no centro, sem obrigação do retorno rápido. Afinal, ir ao centro era tarefa difícil. Trânsito confuso, em função de muitos carros. No calçadão, gente apressada, barracas de camelô, fiscais de estacionamento nas ruas, caixas eletrônicos de banco com fila tão longa e morosa como o caixa de atendimento.
Na bolsa, conferiu a carteira de passageiro preferencial. Com mais de 60 anos, começou a ver benefício no uso da carteirinha do idoso. Embora tenha tirado a CNH depois dos quarenta anos, hoje com 70 anos, notou que era maçante pegar o carro, e enfrentar toda a loucura do trânsito: com motorista forçando a passagem, com jovens e som estridente, além das manobras arriscadas.
Embora não desistira por completo de dirigir, inclusive quando nervosa com o coletivo, a senhora prefere ir de ônibus. As vistas falhando e a perda sucessiva de reflexos serve de incentivo. Nos seus exames médicos de rotina, nada de anormal para pessoa de sua idade. Quem chega aos 70 anos, pensa ela, deve saber que limitações é a regra, ainda que a intensidade varie.
Hoje, não desligaria a televisão após o programa matinal preferido. Os netos, de férias e em visita de três dias, tinham prioridade para assistir a tevê. Beijou-os.
Caminhou para o ponto de ônibus. Ficou surpresa com a chegada do ônibus logo que ela pisou no ponto. E havia vaga nos assentos preferenciais. A vaga bem se explica: estava fora da hora de pico, faltando uma hora para meio dia.
Quando o ônibus passou pela Igreja, o sinal da cruz fez o rotineiro reflexo. Quinze minutos mais tarde, desceu do ônibus e caminhava pelas ruas do centro. Foi ao caixa eletrônico, e sacou uns trocados da aposentadoria. Depois, adentrou na loja e enfrentou uma fila para pagar o carnê atrasado da geladeira. Na saída, ainda namorou o aparelho de rádio. Tinha em casa o velho radinho, mas este, com mais de 15 anos, dava sinais de pifar por completo, visto que volta e meia ia para o conserto.
Complicado atribuir a causa do descuido. Talvez devido ao pensamento que forçava mais uma prestação, a do rádio, na exprimida aposentadoria, ou à ansiedade de retornar para casa.
Iria atravessar a avenida. A visão exclusivamente grudada à sua direita, devido ao excesso de movimentação de carros, caminhões e ônibus. Descuidou-se do fluxo, quase inexistente, à sua esquerda. Esqueceu do corredor de ônibus. Quando deu por si, fora arremessada, caindo sem vida no córrego. A perna esquerda com fratura exposta.
Num instante, a multidão aglomerou. Que confusão. Curiosos aos montes. Complicado o rabecão atravessar a massa de gente. Os bombeiros buscando retirar o corpo do córrego.
A bolsa da senhora, salva por transeuntes bem intencionados, facilitaria o trabalho de reconhecimento do corpo para acionar a família da vítima.
“Não sei o que houve... Quando vi estava em cima dela. Parece que só olhou para o lado dos carros, ignorando que aqui fosse um corredor expresso de ônibus”, disse o motorista assustado.
“Não é a primeira vez que acontece. Esquecem este detalhe...,” disse o policial ao motorista, talvez para acalmar no motorista a culpa pela fatalidade.
“Sua irmã chega por volta do meio dia. Almoça, e corre novamente para o supermercado,” disse a mãe.
“Tudo bem, mãe, eu disse que deixo a comida pronta,” responde a filha.
O pedido da mãe era que a filha mais velha aprontasse o almoço da caçula, assim a mãe teria mais tempo para circular no centro, sem obrigação do retorno rápido. Afinal, ir ao centro era tarefa difícil. Trânsito confuso, em função de muitos carros. No calçadão, gente apressada, barracas de camelô, fiscais de estacionamento nas ruas, caixas eletrônicos de banco com fila tão longa e morosa como o caixa de atendimento.
Na bolsa, conferiu a carteira de passageiro preferencial. Com mais de 60 anos, começou a ver benefício no uso da carteirinha do idoso. Embora tenha tirado a CNH depois dos quarenta anos, hoje com 70 anos, notou que era maçante pegar o carro, e enfrentar toda a loucura do trânsito: com motorista forçando a passagem, com jovens e som estridente, além das manobras arriscadas.
Embora não desistira por completo de dirigir, inclusive quando nervosa com o coletivo, a senhora prefere ir de ônibus. As vistas falhando e a perda sucessiva de reflexos serve de incentivo. Nos seus exames médicos de rotina, nada de anormal para pessoa de sua idade. Quem chega aos 70 anos, pensa ela, deve saber que limitações é a regra, ainda que a intensidade varie.
Hoje, não desligaria a televisão após o programa matinal preferido. Os netos, de férias e em visita de três dias, tinham prioridade para assistir a tevê. Beijou-os.
Caminhou para o ponto de ônibus. Ficou surpresa com a chegada do ônibus logo que ela pisou no ponto. E havia vaga nos assentos preferenciais. A vaga bem se explica: estava fora da hora de pico, faltando uma hora para meio dia.
Quando o ônibus passou pela Igreja, o sinal da cruz fez o rotineiro reflexo. Quinze minutos mais tarde, desceu do ônibus e caminhava pelas ruas do centro. Foi ao caixa eletrônico, e sacou uns trocados da aposentadoria. Depois, adentrou na loja e enfrentou uma fila para pagar o carnê atrasado da geladeira. Na saída, ainda namorou o aparelho de rádio. Tinha em casa o velho radinho, mas este, com mais de 15 anos, dava sinais de pifar por completo, visto que volta e meia ia para o conserto.
Complicado atribuir a causa do descuido. Talvez devido ao pensamento que forçava mais uma prestação, a do rádio, na exprimida aposentadoria, ou à ansiedade de retornar para casa.
Iria atravessar a avenida. A visão exclusivamente grudada à sua direita, devido ao excesso de movimentação de carros, caminhões e ônibus. Descuidou-se do fluxo, quase inexistente, à sua esquerda. Esqueceu do corredor de ônibus. Quando deu por si, fora arremessada, caindo sem vida no córrego. A perna esquerda com fratura exposta.
Num instante, a multidão aglomerou. Que confusão. Curiosos aos montes. Complicado o rabecão atravessar a massa de gente. Os bombeiros buscando retirar o corpo do córrego.
A bolsa da senhora, salva por transeuntes bem intencionados, facilitaria o trabalho de reconhecimento do corpo para acionar a família da vítima.
“Não sei o que houve... Quando vi estava em cima dela. Parece que só olhou para o lado dos carros, ignorando que aqui fosse um corredor expresso de ônibus”, disse o motorista assustado.
“Não é a primeira vez que acontece. Esquecem este detalhe...,” disse o policial ao motorista, talvez para acalmar no motorista a culpa pela fatalidade.
“Bom dia, a senhora veio visitar o diretor?”
“Não. Vim trabalhar.”
O guarda que a conhecia de vista ficou surpreso. Das vezes que a viu na unidade, ela estava em visita. E com motorista esperando dentro ou fora do veículo branco com o emblema do governo estadual estampado nas portas.
O portão que se abre. Ela adentra na unidade. Voltava ao cargo de origem, do qual saiu para exercer por dois anos o de confiança. Na época da partida, satisfação. Quantos apertos de mãos, quantos votos de incentivo, quantos parabéns. Mesmo as caras rancorosas, por causa de seu sucesso, lhe agradavam. A conquista do prêmio é uma satisfação, mesmo que o prêmio vire mais tarde um elefante branco, algo que dê dor de cabeça. Pouco importa. Na hora que se põe a mão no prêmio é só felicidade. É a sensação de ter vencido a concorrência.
As pessoas que cruzavam seu caminho – e que desconheciam a razão da chegada – eram tomadas pela surpresa. Acreditavam que ela fosse visita, acostumadas a vê-la na sala do diretor, ou paparicada pela cúpula da unidade.
Logo, a dúvida se dissiparia.
Apresentou-se ao administrativo. Em minutos, estaria lotada na unidade, para a qual prestou concurso e foi admitida há quatro anos. Seu nome voltando ao livro de ponto. Retornava às funções de funcionária comum, devendo registrar hora de entrada, de almoço e de saída. Antes assinava a papelada para os subordinados. Acostumada a cobrar obediência às normas que ela implantava, estava de volta à posição de obedecer.
Por vários dias, os colegas de trabalho estranhariam ou se admirariam diante dela. Quando a poeira baixou, vieram as observações – maldosas ou corriqueiras – tipo ‘seja bem-vinda a lida dos peões’. O pior acontecia quando no começo da reunião da diretoria ou da recepção a uma visita importante: pediam para que se retirasse. E a porta se fechava.
Na função de auxiliar de almoxarifado, devia conferir prateleiras e estoque, adequando-os às necessidades da unidade.
A intensidade do sofrimento devido à perda do cargo de confiança é proporcional à necessidade de status, de reconhecimento, de gosto por mandar. Assim, veremos um presidente de uma estatal, quando da perda do cargo, dizer que “enquanto lá estive, fiz meu melhor. Agora volto a ser cidadão comum e tratar de meus antigos interesses”. Outros reagem como se o mundo caísse sobre suas cabeças. No caso dela, ficou sem chão quando a mesma cúpula que a alçou como mandatária retirou de suas mãos o poder.
Lembraria mais da queda que da subida. Estava às voltas com tantas demandas, tão comuns no dia a dia, quando recebeu o chamado da coordenação regional. “Gostaria que viesse o mais rápido possível”. Embora tivesse tido alguns desentendimentos, julgava todos resolvidos ou não tão graves. Daí a surpresa. Na sala, sentada na cadeira, diante do diretor regional e de assistentes, receberia a notícia da dispensa.
Passado mês e meio, as lamentações explodiriam. O cargo que exerce atualmente é tão destituído de poder. Três meses atrás, como diretora da unidade de Guaratinguetá, recepcionando o prefeito, o secretário do desenvolvimento social e outras tantas autoridades importantes. Quantas vezes ela teve que ir às pressas para a capital paulista conversar com o secretário da pasta a qual pertence. Agora, um fantasma a rondava. Está soterrada no almoxarifado, a conferir o que entra e o que sai. Já não solicitavam sua opinião. Passou a mera condição de cumpridora de ordens. Para muitos, uma posição confortável. Para ela, o terrível ostracismo.
Contudo, precisa ganhar o pão. Se tivesse outra renda, uma alternativa, no momento mesmo em que a coordenação regional a chamou para retirar o cargo, teria mandado todos plantar batata... Esfregaria nas fuças deles os erros que presenciou, passaria no RH para assinar a própria demissão e dar o fora desse lugar.
As pessoas na sala sorriam. As mulheres dizendo que a TPM é brava e “tadinho do meu marido quando estou atacada”. “Eu é que não provoco quando a minha está neste estado”, um rapaz, casado, reforça o temor diante da esposa ‘tepeemizada’. O clima de descontração era geral. Seria uma cena comum, sem qualquer ponto conflitante, certo?
Sim, se na sala só tivesse pessoas comuns. Mas havia um de espírito irrequieto. Embora casado, acostumado às intempéries da esposa ‘Naqueles Dias’, hoje um quê de dúvida abateu-se sobre ele.
Uma das mulheres presente na sala era sua chefa. Ele disse, quase sem pensar:
“Será que pode ter alguma relação entre TPM e violência contra a mulher?”, ia falando temeroso com as palavras, como uma criança que receia levar bronca.
“Não entendi”, ela perguntou, embora prestasse pouca atenção, visto o olhar estar dedicado a um notice da chefia de gabinete.
“É sabido que há mulheres que ficam transtornadas neste período. Assim, estariam mais dispostas a brigas. E se diante de si tiver um marido grosseiro, provavelmente ficará em desvantagem caso o seu nervosismo a leve a agredir o cônjuge.”
“Ahn?”, ia ela tentando pescar a ideia.
“A violência doméstica contra mulher aí estaria em função da TPM, que tirando a mulher de seu controle mental, faria atacar o homem, e este revidaria, caso fosse do tipo violento”, e ele apressou a se justificar, “tão diferente de mim, que sei que Nesses Dias eu tenho é que tolerar e se possível sair de casa até ela se acalmar”.
“Nem por brincadeira fale isso. A mulherada cairia de pau em cima de você”, e sem dar muita atenção ela voltou-se para o notice.
“Claro”, ele procurou descontrair o ambiente, mudando de assunto.
Às 17h00, a galera saindo do trampo. Sendo sexta-feira, muitos irradiantes diante da perspectiva de um fim de semana, com as cabeças leves, pegando ônibus, se enfiando nos carros. Mas o maluco do cara ‘ia na neura’. Enquanto a repartição ficava para trás, ele, dentro do ônibus, ia matutando sobre a hipótese da TPM ser uma causa da violência contra a mulher.
Estava diante de um dilema.
Nada a ver quanto aos procedimentos científicos. Era versado em ética na metodologia cientifica. Caso fosse fazer este experimento: pensou num grupo A e grupo B. O grupo A teria as mulheres ‘tepeemizadas’. No grupo B, as mulheres cujo nível de hormônio não causa distúrbio nesse período crítico. A segunda etapa é investigar as mulheres vítimas de violência doméstica e ver se a maioria se encaixa no Grupo A ou no Grupo B.
Os resultados poderiam comprovar ou negar a hipótese. Se negassem, tranquilo. O perigo é se os resultados comprovassem a hipótese de que mulheres em TPM são mais – ou pior, as únicas – vítimas de violência dos maridos.
Eis seu dilema. Se fosse comprovado, muito marido que bate na esposa alegaria legítima defesa diante dos ataques provocados pela influência da TPM. Temia que o achado científico pudesse culpar a vítima em vez de punir o agressor.
Humanista que era não temia pela própria pele. Nem o amedrontava o fato de ter na presidência da empresa que ele trabalha uma mulher. Até votou na Dilma e realmente gosta do estilo de sua chefa.
No almoço, a situação muda. A turma corre para lá e vira o maior aperto. Em meio ao esquenta marmita ou mastiga comida, cada um expressa preocupações, felicidades... Até segredos são revelados. No afã de se mostrar o menos antissocial, desabrocham manias. As turminhas se formam. A que fala mal da direção, entre dentes ou declaradamente –, claro, sem os chefes por perto. A que faz piadas machistas ou feministas. A que desdenha o desafeto à frente. Os tarados por futebol.
Para desdenhar o desafeto, utiliza-se qualquer recurso ao alcance. Um é o que segue.
Rondando a repartição, há um vira-lata. Sua presença na empresa divide opiniões. Há os que o protegem, querem que ele ali permaneça por temer que, se o bicho for embora, tenha um triste fim. Há a turma que detesta a presença do cão. Da primeira turma, o amor se explica por si. No caso da segunda, o ódio precisa de complementos. Por exemplo, há pessoas que temem sofrer a agressão do cachorro.
Não é um medo infundado. O cachorro morde. A primeira vítima, uma moça, levou dentada na mão, quando procurava acalmá-lo. Outra, um rapaz que mostrou medo quando intimidado pelo cão e balançou a mão. Sem contar as carreiras que o vira-lata dá em motoqueiros. O medo de ser a próxima vítima fazia com que muitos quisessem entregar o cão para um albergue da prefeitura. A direção estava dividida entre os que lutavam para ele sair e os que choravam para ele ficar.
Tudo em relação ao cachorro dividia opiniões. Até a refeição a ele destinada. Certa vez a direção proibiu que dessem comida para o bicho, em tom de ameaça. Ainda que em documento afixado em toda empresa, a imposição não vingou. Embora soubesse que o cão era alimentado às escondidas, a própria diretora quebrou a esperança dos opositores ao dar almoço para o bicho. A refeição que lhe chegava fazia a diferença. O cachorro rosnava para quem se aproximasse da porta da copa. A fome o perturbava tanto que até para os benfeitores o bicho latia ameaçador caso eles brincassem, fingindo saborear a comida do marmitex.
Qualquer bicho em convívio com o ser humano é passível de desenvolver manias. O cachorro rejeitava certo tipo de mistura. Se a carne de panela com batata fosse desagradável ao paladar, o cão só comia o arroz e feijão.
Esse comportamento servia de lenha para recriminações daqueles que já tinham o cachorro atravessado na garganta. Ocorre que muitos, nem sempre, traziam na marmita o que gostariam de comer, devido à rotina de trabalho e falta de tempo.
“Na próxima vida eu quero nascer cachorro se for ter os mesmos privilégios deste”, comentava alguém que antipatizava com o cão.
“Imagina. Eles têm inveja do pobre animal por causa de um marmitex? Onde o mundo vai parar?”, a senhora que levava água para o cão murmurou.
Uma vez por semestre a turma dos partidários contratava clínica veterinária para dar banho e tosa, além das vacinas. Quem reclamava do convênio médico da empresa não poupava um sarcasmo.
“Queria que alguém cuidasse de mim assim...”, disse um descontente.
Para levar a fera à clínica, só dopado. Colocavam o sonífero na comida ou bebida. O cão nada tinha de tonto, parece que adivinhava. O alvoroço para fazê-lo ingerir o sonífero era espetáculo à parte. Uns chamando-o de tadinho. Outros, de imprestável.
O clima está quente no minúsculo espaço. No recinto, o acre cheiro da transpiração dos corpos suados invade as narinas, mesmo aquelas adaptadas às condições mais escassas quanto à higiene. A temperatura ambiente é em parte culpada pelo desconforto.
“A culpa é dos cabeçudos que deixavam a porta aberta com o ar condicionado ligado,” desabafou um dos funcionários. “Agora estamos todos ferrados, com o aparelho pifado.”
“A encomenda chegou,” disse a copeira no pé do ouvido da moça. Ambas saíram da comemoraçãozinha e foram para a sala de trabalho. A vendedora retirou de dentro do saco a jaqueta de couro preta. A analista pegou a jaqueta e, logo após ter despido o jaleco branco, vestiu a peça. Ficou legal, justinha, sob medida, palavras da vendedora, naturalmente inclinada em realçar os pontos ótimos do vestuário. A analista havia gostado do corte, do tamanho, do efeito que a jaqueta desenhava em seu corpo.
Era uma jaqueta de motoqueira.
A analista em computação havia recentemente sido aprovada em concurso público e admitida no funcionalismo para trabalhar no CTA em São José dos Campos. O problema é que residia em São Sebastião. Por necessidade, ela vinha de moto para o trabalho pelo menos três dias na semana.
“O carro me comeria mais de ¼ do salário, não tô podendo,” a moça dizia para si para justificar a cansativa descida e subida da Serra diariamente.
É a mulher conquistando espaço. Ela entra no CTA às 13 horas e sai às 22 horas, perfazendo 8 horas de trabalho. Essa rotina é para quebrar muita gente. Imagina se ainda tiver que dar aula na parte da manhã. A analista, antes de conquistar vaga no serviço público, tinha que ganhar a vida, daí ter optado pela educação. Há quatro anos leciona informática para alunos do ensino técnico em São Sebastião.
É a nova safra de mulher, adaptada às exigências do século 21. Nada de anormal, quando se vê a mulher presidir o Brasil após 500 anos de exclusividade masculina.
O relógio da repartição soa 17 horas. A maioria dos funcionários deixa a instituição. Às 19h, mais gente vai descansar. A escuridão caia completamente. Ela acompanha a troca de plantão. Enquanto um ou outro se aproxima para contar novidade, para exigir este ou aquele encaminhamento, o tempo vai passando.
Às 22h, a moça passa pela portaria. No pátio, do lado de fora da unidade, abre o bagageiro da moto. Coloca o capacete na cabeça. Veste a jaqueta antiga. A nova fica para outro dia. Liga a moto. E segue caminho para casa.
Percorre a Rodovia dos Tamoios. O vento, a pista, as luzes dos carros são imagens que tem como companhia diante da imensa rodovia. Os faróis altos na contramão perturbam seus olhos. As luzes de sua moto incidem nas placas. Domina a moto, pois sabe que disso depende a vida. Trechos mais perigosos, destaque para a altura de Paraibuna. Neste ano, a rodovia foi apontada como a que mais mata no Estado de São Paulo.
A analista carrega instrumento de proteção, na tentativa de se defender contra possível atentado de machos famintos. Dirigir moto na rodovia às altas horas da noite é perigo para qualquer pessoa. Como não seria para uma moça cuja roupa de motoqueira está longe de ocultar o corpo atraente?
Na quinta e sexta-feira, a analista costuma vir de carro. Quem a vê guiando o Scenic lhe classifica como dondoca, certinha. Quando a avistam em cima da moto, classificam-na de radical, intrépida.
O prejuízo vinha de espertalhões que saíam escondidos sem pagar o almoço. No começo, o dono ficou perplexo. “Numa faculdade pública, pessoas desrespeitando o trabalho do outro é um absurdo”. Ele, que praticamente fora criado atrás do balcão, jamais vira o pai reclamar de alguém que comera e deixava de pagar.
“Meu bem, o tempo mudou... A gente tem que se adaptar,” a esposa procurou esfriar seus nervos.
“Na verdade, é uma regressão. A barbárie...,” ia desabafando como uma criança diante do brinquedo quebrado.
Para entender a facilidade dos “caloteiros”, o restaurante é aberto e tem cadeiras espalhadas ao redor. Essa necessidade de espaço é própria aos estudantes e professores que, no mínimo na hora da refeição, querem escapar do ambiente fechado de laboratório e da sala de aula.
Se no almoço os caras de pau dão um perdido, imagina à noite, quando o restaurante serve petiscos, bebidas e música ambiente para os futuros arquitetos e urbanistas.
Estava num bar no bairro do Bexiga, lamentando ao lado de um colega de profissão, quando se pegou observando o movimento. O cliente pedia uma cerveja, um salgadinho, e o balconista exigia que pegasse a ficha no caixa antes.
“Eureca! É isto,” o dono do restaurante estava tão feliz com a ideia de que por pouco não lascou uma beijoca nas duas bochechas do anfitrião dono do bar.
De volta para a cidade universitária, tinha a cabeça latejando. Quando desceu do Monza 1994 diante da FAU, se os estudantes estivessem menos centrados em si mesmos, poderiam notar no olhar do proprietário do restaurante uma centelha de inovação, semelhante à de Oscar Niemeyer e Lúcio Costa diante de Brasília.
O dono do restaurante travou meia hora de conversa com a patroa. Esta, paciente, acenou positivamente.
“Vamos torcer que dê certo,” emendou a mulher.
“Ué, como não? Eles vão pagar antes, logo o prejuízo desaparecerá,” disse ele.
“Pai, não se esqueça que estamos na faculdade referência no Brasil. Apesar da maioria alienada, tem uma meia dúzia capaz de incendiar,” a filha, caloura de arquitetura, ponderava as ações do proprietário.
Uma semana depois, ele espalhou cartazes no restaurante. Explicou a medida, que sem esta atitude corria o risco de fechar o estabelecimento. Alunos e professores sensíveis, principalmente os que comiam todos os dias e pagavam no fim do mês, fizeram um mutirão de apoio. Por fim, implantada a medida, a comunidade se não sorriu pelo menos não se manifestou em contrário. O silêncio significou aprovação, pelo menos momentânea.
Os lucros ainda se mantinham tímidos, contudo, o prejuízo declinou. O casal de proprietários começou ver parte das preocupações aliviada.
Certa vez, um professor visitante recém-chegado aos quadros da faculdade, ao bebericar uma ou outra, proseara:
“Ontem, vim almoçar. Estranhei. Logo que pesei o prato me pediram para pagar. Escolhi o restaurante por sua simplicidade. Senti desconforto, como se estivesse num restaurante de cinquenta reais o quilo. Olha que lá esperam ao menos provarmos a comida. Aqui paga antes, come depois. É uma afronta, um desrespeito à classe universitária.”
As palavras iam cutucando egos.
Três horas sentado na cadeira, ouvindo o professor. Estava esgotado. Primeiro, havia sonhado por vários dias como seria a reação dela ao abrir a carta. A coragem adiando a entrega. Por que a hesitação? Além do medo de levar o fora, temia que ela se irritasse, considerando falta grave entregar carta de amor a uma mulher comprometida. Era noiva.
A universitária riu da iniciativa. Meneou a cabeça quando os olhos dele encontraram os dela. “Droga, eu bem que podia ter sentado mais próximo dela, hoje.” Ia confabulando
No término da aula, a julgar pelas palavras firmes da universitária, teve certeza de que se quisesse continuar investindo, seria por sua conta e risco o desperdício de energia. Ela estava noutra. “Olha, eu te curto como amigo. Gostaria que entendesse: amo meu noivo e vou me casar.” Depois dessa afirmativa, restou ao estudante tirar o time de campo.
Dali a uns meses estaria curado da paixonite. Hoje, ainda não. Nele pairava o sentimento de frustração como o do turista brasileiro barrado por algum motivo na alfândega do aeroporto estrangeiro e obrigado a voltar para o Brasil.
Magoado, após almoçar, quis vagar por outros departamentos. Sairia do costumeiro bate-papo com a amiga enamorada.
Ia vagando pelos arredores da Xerox, da lanchonete, dos banheiros, quando avistou um amontoado de caixas exibindo livros. O sebo da História. Como não estava a fim de gastar, folheava sem compromisso.
Foi quando avistou o Le Bonheur de Vivre de Sr. John Lubbock. De repente, estava envolvido na magia de um livro antigo. A capa, a grafia. Apesar da edição de 1909, o livro se mostrava bem conservado. Pensou que custaria caro. Espantou-se quando o vendedor disse o valor de R$ 0,50. O conteúdo? Espécie de autoajuda, filosofia de tempos remotos. Gostou. Para não ficar sem graça pelo valor tão ínfimo, aproveitou para levar outro, o romance The Citadel por R$ 4,00.
De posse dos livros, caminhara entre as alamedas ‘uspianas’. Buscou um banco que dava vista para a rodovia diante do prédio da Filosofia. Começou a folhear o livro. Embora em francês, se espantou por compreender tão bem quanto o francês de 2009. Lembrou da mensagem que a professora disse certa vez: “O francês é uma língua que sofre pouca modificação. Um texto de um ou dois séculos atrás você lê com mais facilidade que o corresponde em português.” O livro é de autoajuda, com linguagem coloquial.
Na medida em que folheava as páginas, admirado pela data de impressão, ia se fazendo perguntas. Como era o campus da USP em 1909? Uma fazenda. O interessante é que a questão fundamental do livro Le Bonheur de Vivre, ‘A Felicidade de Viver’, é tão atual. Teria sido coincidência ter encontrado este livro no dia que oficializa a morte de uma paixonite? Afinal, quando uma pessoa se apaixona o que busca é a felicidade.
A cabeça cogitando. Em 1909 não havia os carros que circulam lá embaixo na avenida. O avião, o helicóptero, nada existia. São Paulo era uma cidade de médio porte, e provinciana. O Rio de Janeiro era a capital do Brasil.
“Como será daqui a cem anos? Onde eu estarei? Serei nada. Minhas paixões, dores, pensamentos, todos enterrados junto com meu corpo.” O universitário via-se perturbado com a fragilidade da vida, tanto fazia se recuasse ou avançasse cem anos. Em 1909, sequer sonhava em existir. Em 2109, terá sorte se ainda sobrar ossos seus enterrados nalgum canto. “Às vezes, tenho medo de existir por saber que um dia serei nada.” Que doideira deprimente, pensou.
Levantou-se. 14h 10. Estava atrasado para a aula da tarde. Desistiu de faltar. Apressara o passo. Disse para si que o que importa é viver bem o presente, absorvendo as tristezas e alegrias. Que devia parar de querer ensinar a vida a ser do jeito que ele desejava.
Entrou na sala, o projetor ligado. Uns alunos no cochilo pós-almoço. A maioria resistindo ao sono. O professor falando.